BLOG ORLANDO TAMBOSI
Ensaio do cientista político Francis Fukuyama, publicado pelo Estado da Arte:
A
política do século 21 foi organizada em torno de um espectro político
esquerda-direita definido por questões econômicas, com a esquerda
defendendo mais igualdade e a direita defendendo mais liberdade. A
política progressista girava em torno de trabalhadores, sindicatos e
partidos social-democratas que buscavam uma melhor rede de proteção
social e redistribuição de renda. Por outro lado, a direita estava
interessada principalmente em reduzir o tamanho do governo e promover o
setor privado. Na segunda década do século 21, em muitas regiões esse
espectro político parece estar cedendo lugar a outro, definido em torno
de identidades. A esquerda tem focado menos em igualdade econômica de
maneira mais ampla e mais em promover os interesses de uma vasta gama de
grupos percebidos como marginalizados — negros, imigrantes, mulheres,
hispânicos, a comunidade LGBT, refugiados, etc. A direita, por sua vez,
está se redefinindo como um conjunto de patriotas que buscam proteger a
identidade nacional tradicional, uma identidade frequentemente ligada a
raça, etnia ou religião.
Uma longa tradição que remonta ao menos a Karl Marx enxerga nas lutas políticas um reflexo de conflitos econômicos, essencialmente uma luta por fatias do bolo. De fato, essa é parte da história dos anos 2010, com a globalização alijando um número significativo de pessoas do crescimento econômico ocorrido ao redor do mundo. Mas, a despeito da importância do interesse próprio material, os seres humanos também são motivados por outras coisas, razões que mais bem explicam os eventos díspares do presente. Essas razões dão origem ao que poderia ser chamado de “política do ressentimento”. Em muitos casos, um líder político mobiliza seguidores em torno da percepção de que a dignidade de um grupo foi insultada, afrontada ou simplesmente desprezada. Esse ressentimento produz uma demanda por reconhecimento público da dignidade do grupo em questão. Um grupo humilhado em busca da restituição de sua dignidade tem um peso emocional muito maior do que pessoas simplesmente em busca de vantagem econômica.

Assim,
o presidente russo Vladimir Putin descreveu a tragédia do colapso da
antiga União Soviética e como a Europa e os Estados Unidos se
beneficiaram da fragilidade da Rússia nos anos 1990 para aproximar a
OTAN de suas fronteiras. Ele despreza a atitude de superioridade moral
exibida por políticos ocidentais e quer ver a Rússia tratada não como —
nas palavras do ex-presidente americano Barack Obama — um ator regional
fraco, mas como uma grande potência. O governo chinês de Xi Jinping
falou longamente sobre os “cem anos de humilhação” da China e como os
Estados Unidos, Japão e outros países estariam tentando impedi-la de
retornar ao status de grande potência que teve por milênios ao longo da
história. Ressentimento por indignidades é uma força poderosa também em
países democráticos. Nos EUA, inspirou movimentos tão diversos como o
Black Lives Matter contra a brutalidade policial, a campanha #MeToo
contra o assédio e a violência sexual e o forte apoio dos eleitores
rurais à candidatura presidencial de Donald Trump.
Todos
esses são casos nos quais uma grande potência como Rússia ou China ou
um conjunto de cidadãos em uma democracia acredita que possui uma
identidade que não está recebendo o devido reconhecimento — seja pelo
mundo externo, no caso de uma nação, ou por outros membros da mesma
sociedade. Essas identidades podem e são incrivelmente diversas,
baseadas em nação, religião, etnia, orientação sexual ou gênero. São
todas manifestações de um fenômeno comum: a política identitária.

“Identidade”
e “política identitária” são termos relativamente recentes, o primeiro
tendo sido popularizado pelo psicanalista alemão Erik Erikson nos anos
1950, e o último ganhando visibilidade pública apenas na política
cultural dos anos 1980 e 1990. Atualmente, “identidade” possui diversos
significados, em alguns casos referindo-se simplesmente a categorias ou
funções sociais, em outros a informações básicas sobre um indivíduo
(como em “minha identidade foi roubada”). Nessa acepção, as identidades
sempre existiram.
Aqui,
no entanto, uso o termo “identidade” em um sentido específico que nos
ajuda a compreender por que ela é tão importante para a política
contemporânea. Em primeiro lugar, a identidade compreendida dessa forma
tem origem em uma distinção entre o verdadeiro eu interior e o mundo
externo de regras e normas sociais que não reconhecem adequadamente o
valor ou a dignidade desse eu interior. Ao longo da história da
humanidade sempre houve indivíduos em conflito com suas comunidades. Mas
somente nos tempos atuais impôs-se a visão de que o eu interior
autêntico possui valor intrínseco e que a sociedade sistematicamente o
reconhece de maneira errada e injusta. Não é o eu interior que precisa
se conformar às regras da sociedade, mas a própria sociedade que precisa
mudar.
O
eu interior é a base da dignidade humana, mas a natureza dessa
dignidade é mutável e variou ao longo do tempo. Em muitas culturas
antigas, a dignidade era atribuída somente a poucos, normalmente
guerreiros dispostos a arriscar suas vidas em batalha. Em outras
sociedades, a dignidade é vista como um atributo de todos os seres
humanos, com base em seu valor intrínseco enquanto pessoa dotada de
agência e, em outros casos, a dignidade é concedida com base no
pertencimento a um grupo maior que compartilha memória e experiências.
Por
fim, o senso interior de dignidade busca reconhecimento. Não basta que
eu possua uma autopercepção de valor se outras pessoas não a
reconhecerem publicamente ou, ainda pior, se denegrirem ou ignorarem
minha existência. A autoestima surge da estima demonstrada por outros.
Como os seres humanos naturalmente buscam reconhecimento, o sentido
moderno de identidade evolui rapidamente para uma política identitária,
na qual indivíduos demandam reconhecimento público de seu valor. A
política identitária, portanto, abarca grande parte das lutas políticas
do mundo contemporâneo, das revoluções democráticas aos novos movimentos
sociais, do nacionalismo e islamismo às disputas políticas nos campi
das universidades americanas. De fato, Hegel argumentava que a luta por
reconhecimento era o grande motor da história humana, uma força chave
para se compreender a emergência do mundo moderno.
Identidade nacional e florescimento nacional
Neste
ensaio, quero focar em um aspecto específico da identidade que
reemergiu com especial vigor como força política em anos recentes. Diz
respeito a questões sobre a “identidade nacional”: como ela é
constituída, quem ela inclui e que lugar deve ocupar na vida
contemporânea.
A
identidade nacional tem sido essencial para os destinos dos Estados
modernos. Uma identidade nacional fraca tem sido um grande problema no
grande Oriente Médio, onde Iêmen e Líbia se desintegraram em Estados
falidos e Afeganistão, Iraque, Síria e Somália vêm sofrendo com
insurreições internas e caos. Outros países em desenvolvimento que
permaneceram mais estáveis ainda assim se viram acossados por problemas
relacionados a um baixo senso de identidade nacional. É a situação
vivida por toda a África subsaariana, onde essas questões são um
importante obstáculo ao desenvolvimento. Países como Quênia e Nigéria,
por exemplo, estão étnica e religiosamente divididos; a estabilidade só é
mantida porque diferentes grupos étnicos se revezam no poder e na
pilhagem do país. O resultado é um baixo desenvolvimento econômico e
altos níveis de corrupção e pobreza.
Em
contraste, China, Japão e Coreia possuíam identidades nacionais
altamente desenvolvidas muito antes de começarem a se modernizar — de
fato, antes da confrontação dos três países com as potências ocidentais
no século 19. Uma razão pela qual as economias da China, Japão e Coreia
do Sul foram capazes de crescer de maneira tão espetacular no século 20 e
início do século 21 é o fato de que esses países não precisaram superar
questões internas de identidade quando se abriram ao comércio e ao
investimento estrangeiros. Eles também sofreram com guerra civil,
ocupação e divisões. Mas conseguiram se apoiar em tradições de Estado e
um senso de propósito nacional comum uma vez estabilizados esses
conflitos.
A
identidade nacional origina-se na crença compartilhada na legitimidade
do sistema político do país, seja ou não um sistema democrático. A
identidade pode estar baseada em leis e instituições formais que ditam,
por exemplo, qual idioma ou idiomas serão considerados os oficiais, ou o
que as escolas ensinarão às crianças sobre o passado do país. Mas a
identidade nacional também se estende ao domínio da cultura e dos
valores. Ela consiste em histórias que as pessoas contam sobre si
mesmas: de onde vieram, o que comemoram, suas memórias históricas comuns
e suas expectativas sobre o que é preciso para se tornar um membro
legítimo da comunidade.
No
mundo contemporâneo, a diversidade — em termos de raça, etnia,
religião, gênero, orientação sexual e afins — é tanto um fato da vida
como um valor. É um fator positivo para as sociedades por várias razões.
A exposição a diferentes maneiras de pensar e agir pode muitas vezes
estimular inovação, criatividade e empreendedorismo. A diversidade gera
interesse e entusiasmo. Em 1970, Washington D.C. era uma cidade
birracial monótona na qual a cozinha internacional mais interessante era
a do Yenching Palace na Avenida Connecticut. Atualmente, a região
metropolitana de Washington D.C. sedia uma quantidade incrível de
diversidade étnica: é possível encontrar cozinha etíope, peruana,
cambojana e paquistanesa e viajar de um pequeno bairro étnico para
outro. A internacionalização da cidade estimulou outras formas de
interesse: ao se tornar um lugar onde pessoas jovens desejam viver, traz
música, arte e tecnologia e tem transformado a paisagem de bairros
inteiros. Histórias parecidas aconteceram em inúmeras outras áreas
metropolitanas ao redor do mundo, de Chicago a São Francisco, de Londres
a Berlim.
A
diversidade também é fundamental para a resiliência. Biólogos
ambientais apontam que monoculturas artificialmente produzidas são
altamente vulneráveis a doenças por falta de diversidade genética. De
fato, a diversidade é o motor da própria evolução, que depende de
variabilidade genética e adaptação. Os ecologistas atuais preocupam-se
com a perda de diversidade em espécies ao redor do mundo em parte porque
ela representa uma ameaça à resiliência biológica no longo prazo.
Por
fim, há a questão da busca individual por identidade. As pessoas
frequentemente resistem a serem homogeneizadas em culturas mais amplas,
particularmente se não nasceram dentro dessas culturas. Querem que seus
respectivos “eus” sejam reconhecidos e celebrados, não suprimidos.
Querem sentir uma conexão com seus ancestrais e saber de onde vieram.
Ainda que não vivam mais em suas comunidades tradicionais, querem uma
conexão com os idiomas indígenas em rápido desaparecimento pelo mundo e
práticas tradicionais que evoquem modos mais antigos de vida.
Mas
a diversidade não é necessariamente um bem. A Síria e o Afeganistão são
países com bastante diversidade, mas que resultou em violência e
conflito em vez de criatividade e resiliência. No Quênia, onde há fortes
clivagens étnicas, a diversidade alimenta uma corrupção baseada em
laços étnicos. A diversidade étnica levou ao colapso do liberal Império
Austro-Húngaro nas décadas que antecederam a Primeira Guerra Mundial,
quando as diversas nacionalidades do império começaram a se rebelar
contra a ideia de viverem juntas sob uma estrutura política comum. Na
virada do século, a capital imperial Viena era um caldeirão de culturas
que produziu pessoas como Sigmund Freud, o romancista e poeta Hugo von
Hofmannsthal e o compositor Gustav Mahler. Mas quando as identidades
nacionais mais estritas do Império — sérvios, búlgaros, checos e
austro-alemães — começaram a se impor, a região rumou a um estado de
violência e intolerância.
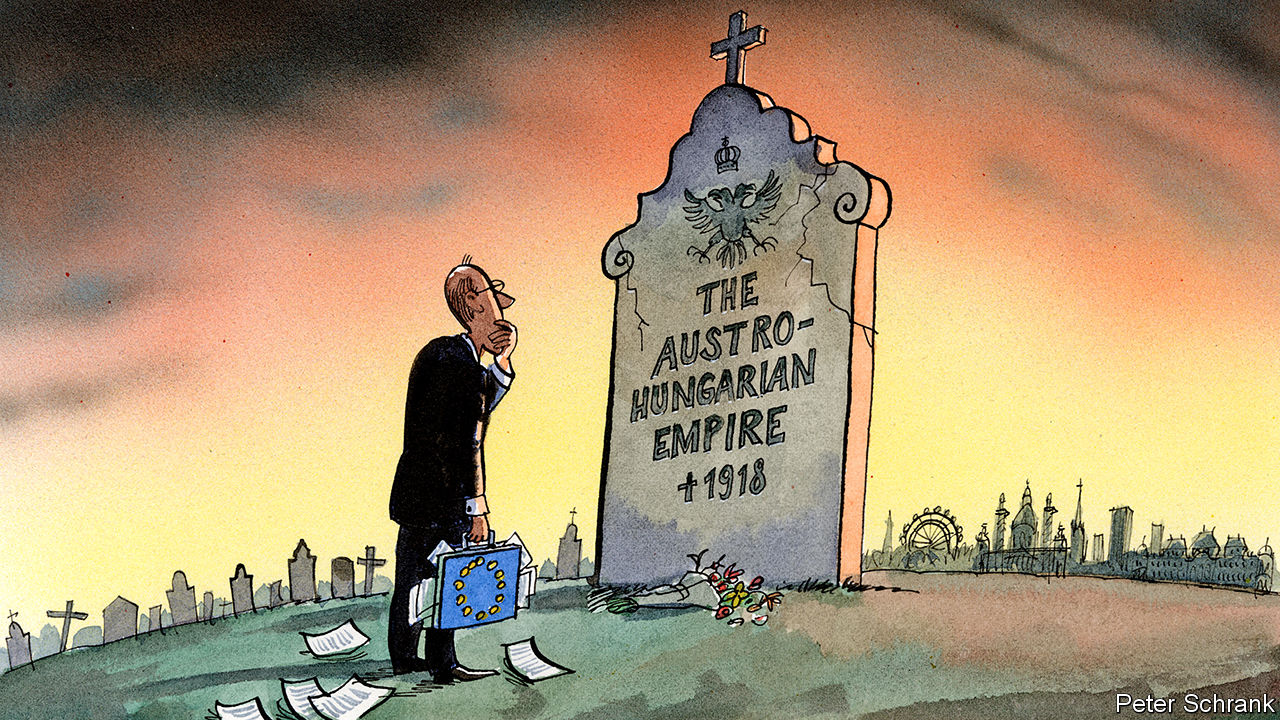
A
identidade nacional ganhou má reputação nesse período precisamente
porque foi associada a um senso exclusivo de pertencimento baseado em
etnia conhecido como “nacionalismo étnico”. Esse tipo de identidade
levou à perseguição de pessoas que não faziam parte do grupo, bem como a
atos de agressão internacional cometidos em nome de membros da mesma
etnia vivendo em outros países. Esses problemas, no entanto, tinham
origem não na própria ideia de identidade nacional, mas em sua afirmação
estreita, etnicamente motivada, intolerante, agressiva e profundamente
iliberal.
As
coisas não precisam ser assim. As identidades nacionais podem ser
construídas em torno de valores políticos liberais e democráticos e em
torno de experiências comuns que funcionam como o tecido conjuntivo que
permite a comunidades com grande diversidade prosperar. Canadá, França,
Índia e Estados Unidos são exemplos de países que tentaram cultivar
identidades nacionais ao longo dessas linhas. Esse senso de identidade
nacional inclusivo permanece crítico para a manutenção de uma ordem
política moderna bem-sucedida por diversas razões.
A
primeira é segurança física. O exemplo extremo do que pode acontecer na
falta de uma identidade nacional é o colapso do Estado e a guerra
civil, como ocorreu na Síria e na Líbia. No mínimo, uma identidade
nacional fraca cria outros graves problemas de segurança. Pode ameaçar a
integridade de Estados, o que é um risco de segurança dado que grandes
unidades políticas são mais poderosas do que unidades menores e são mais
capazes de se proteger e a seus cidadãos. Estados maiores também
conseguem moldar mais facilmente o ambiente internacional para acomodar
seus próprios interesses. A Grã-Bretanha, por exemplo, não teria sido
capaz de desempenhar o papel geopolítico que desempenhou ao longo dos
últimos séculos se a Escócia tivesse permanecido um país independente. O
peso geopolítico da Espanha seria igualmente diminuído se a região mais
rica do país, a Catalunha, tivesse se separado. Países altamente
divididos são fracos, motivo pelo qual a Rússia de Putin tem
discretamente apoiado movimentos pela independência na Europa e
interveio na política americana, amplificando divisões.
Em
segundo lugar, a identidade nacional é importante para a qualidade do
governo. Bom governo — que implica serviços públicos efetivos e baixos
níveis de corrupção — depende de servidores públicos que colocam o
interesse público à frente de seus próprios interesses mesquinhos. Em
sociedades sistematicamente corruptas, políticos e burocratas desviam
recursos públicos para seu próprio grupo étnico, região, tribo, família
ou partido político — ou para seu próprio bolso — porque não se sentem
obrigados a servir os interesses da comunidade mais ampla.
Isso
nos leva à terceira função da identidade nacional: facilitar o
desenvolvimento econômico. Se as pessoas não se orgulharem de seu país,
elas não trabalharão em prol dele. As identidades nacionais fortes no
Japão, Coreia do Sul e China produziram elites intensamente focadas no
desenvolvimento econômico de seus países em vez de seu próprio
enriquecimento pessoal, particularmente nas primeiras décadas de rápido
crescimento econômico dessas nações. Esse tipo de direcionamento público
foi chave para o sucesso do “Estado desenvolvimentista” nessas e em
outras economias que se modernizaram rapidamente; era bem menos comum em
regiões como a África subsaariana, o Oriente Médio e a América Latina.
Ao
contrário desses exemplos de identificação com o país como um todo,
muitos grupos identitários baseados em etnia ou religião preferem fazer
comércio entre si e, quando possuem acesso ao poder estatal, usam-no
para beneficiar apenas seu próprio grupo. Embora isso possa ajudar uma
comunidade de imigrantes recém-chegada a um país, sua prosperidade
futura dependerá criticamente de sua capacidade de se assimilar à
cultura mais ampla daquele país. As economias prosperam quando os
cidadãos possuem acesso aos mercados mais amplos possíveis, onde as
transações podem acontecer independente das identidades de compradores e
vendedores. Um senso comum de nação contribui para isso — desde que,
obviamente, a identidade nacional não se torne uma fonte de
protecionismo contra outras nações.
Uma
quarta função da identidade nacional é promover um raio mais amplo de
confiança, que age como um lubrificante que facilita tanto as trocas
econômicas como a participação política. A confiança está baseada no
chamado capital social — ou seja, a capacidade de cooperar com outras
pessoas com base em normas informais e valores comuns. Embora grupos
identitários promovam confiança entre seus membros, o capital social
costuma se limitar aos próprios grupos internamente. De fato,
identidades fortes muitas vezes reduzem a confiança entre membros de um
grupo e pessoas de fora dele. As sociedades prosperam por meio da
confiança, mas precisam do mais amplo raio de confiança possível —
tornado possível por um senso de identidade comum — para poder
florescer.
Quinto,
a identidade nacional incentiva os países a manterem uma forte rede de
proteção social que reduz a desigualdade econômica. Se os membros de uma
sociedade sentem que pertencem a uma família estendida e possuem altos
níveis de confiança uns nos outros, é mais provável que apoiem programas
sociais que auxiliem os menos favorecidos entre seus semelhantes. Os
robustos estados de bem-estar social dos países escandinavos são
sustentados por um senso igualmente forte de identidade nacional. Em
contraste, em sociedades divididas em grupos sociais isolados cujos
respectivos membros sentem que possuem pouco em comum com os demais
grupos, é mais provável que os cidadãos vejam uns aos outros como
competidores disputando os mesmos recursos, em um jogo de soma zero.
A
última função da identidade nacional é tornar possível a própria
democracia liberal. Uma democracia liberal é um contrato implícito entre
os cidadãos e seu governo, e entre os próprios cidadãos, no qual abrem
mão de determinados direitos para permitir que o governo proteja outros
direitos mais básicos e importantes. A identidade nacional constrói-se
em torno da legitimidade desse contrato; se os cidadãos não acreditam
que sejam parte da mesma comunidade política, o sistema não funcionará.
Mas
a qualidade da democracia depende de mais do que a mera aceitação das
regras básicas do sistema. Para funcionar, as democracias precisam de
sua própria cultura. Elas não produzem um entendimento automático; de
fato, são necessariamente conjuntos pluralistas de diversos interesses,
opiniões e valores que precisam ser conciliados de maneira pacífica. As
democracias exigem deliberação e debate, que só podem ocorrer se as
pessoas aceitarem certas normas de comportamento estabelecendo o que
pode ser dito e feito. Os cidadãos normalmente precisam aceitar
resultados que lhes desagradam ou que não preferem em nome do bem comum;
uma cultura de tolerância e afinidade mútua precisa prevalecer sobre
paixões partidárias.
A
identidade tem como base thymos, o termo de Platão para o aspecto da
alma humana vivenciado emocionalmente por meio de sentimentos de
orgulho, vergonha e raiva e que busca reconhecimento de dignidade.
Obviamente, thymos pode prejudicar um debate e uma deliberação racional
ao promover um apego cego à sua própria comunidade. Mas as democracias
não sobreviverão caso os cidadãos não estejam de alguma maneira
irracionalmente ligados a ideias de governo constitucional e de
igualdade entre as pessoas por meio de sentimentos de orgulho e
patriotismo. Essa ligação ajuda as sociedades em seus piores momentos,
quando as instituições não funcionam adequadamente e a razão, sozinha,
pode levar ao desespero.
O impacto da imigração
A
questão de política pública que trouxe os maiores desafios à identidade
nacional é a imigração, bem como a questão relacionada dos fluxos de
refugiados. Juntos, esses temas têm sido a força motriz por trás do
recente ressurgimento do nacionalismo populista tanto na Europa como nos
Estados Unidos. A Frente Nacional da França, o Partido da Liberdade dos
Países Baixos, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha
(AfD), o Fidesz de Viktor Orbán na Hungria e os apoiadores do “brexit”
no Reino Unido são tanto anti-imigração como contrários à União
Europeia. Mas essas são duas faces da mesma moeda para muitos
populistas: eles possuem uma profunda antipatia pela UE porque acreditam
que ela priva seu país do direito soberano de controlar sua própria
fronteira. Em 1985, a UE, buscando promover a mobilidade da força de
trabalho e o crescimento econômico, criou o sistema de Schengen de livre
circulação de pessoas entre a maioria de seus Estados-membros. Também
estabeleceu proteções a uma série de direitos para refugiados que chegam
à Europa, proteções que são garantidas não por tribunais nacionais, mas
pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

Esse
sistema funcionou como anunciado, permitindo à força de trabalho migrar
para áreas em que pudesse ser usada de maneira mais produtiva e
oferecendo refúgio a vítimas de perseguição política. Mas também levou a
aumentos massivos do número de indivíduos estrangeiros em muitos países
da UE, uma questão que veio à tona em 2014 quando a guerra civil na
Síria expulsou mais de um milhão de refugiados em direção à Europa.
Similarmente,
nos Estados Unidos a imigração desbancou classe e raça como principais
razões pelas quais os eleitores escolhem candidatos do Partido
Republicano. A incorporação de afro-americanos ao Partido Democrata a
partir do movimento pelos direitos civis dos anos 1960 foi em grande
parte creditada ao direcionamento do sul dos Estados Unidos aos braços
do Partido Republicano; atualmente a imigração desempenha um papel
similar para certas categorias de eleitores. A oposição à imigração de
mexicanos e muçulmanos foi figura central na campanha eleitoral de 2016
de Donald Trump e sua consequente chegada à Casa Branca. No centro das
queixas dos conservadores estão aproximadamente 11 a 12 milhões de
imigrantes sem documentos que, estima-se, vivem atualmente nos EUA. Como
na Europa, políticos anti-imigração lamentam o fracasso do país em
exercer seu direito soberano de controlar o fluxo de pessoas
atravessando suas fronteiras — daí a promessa de Trump de construir um
“muro grande e bonito” na fronteira entre os Estados Unidos e o México.
Não
deveria surpreender o fato de que a imigração tenha desencadeado uma
reação: os níveis de migração têm sido altos e, em alguns casos, sem
precedente histórico, assim como o grau de mudança cultural que
acompanhou esse fluxo migratório. A proporção de indivíduos estrangeiros
nos Estados Unidos está atualmente no mesmo nível dos anos 1920,
seguindo a grande onda imigratória que atingiu o país na virada para o
século 20. As democracias mais ricas da Oceania e da Europa Ocidental
também passaram por um impressionante aumento da proporção de
estrangeiros em sua população nos anos recentes. Desde 1970, esse número
dobrou em inúmeros países, e aumentou mais de seis vezes na Finlândia,
Itália, Países Baixos e Espanha.

Definindo o Povo
O
objetivo comum dos políticos populistas tanto na Europa quanto nos
Estados Unidos é “tomar nosso país de volta”. Eles argumentam que o
entendimento tradicional de identidade nacional está sendo diluído e
engolido por pessoas recém-chegadas com valores e culturas diferentes e
por uma esquerda progressista que ataca a própria ideia de identidade
nacional, descrevendo-a como racista e intolerante.
Mas
que país eles estão tentando tomar de volta? A Constituição americana
começa com a seguinte frase: “Nós, o Povo dos Estados Unidos, a Fim de
formar uma União mais perfeita, estabelecer a Justiça, assegurar a
Tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o Bem-estar geral
e assegurar os Benefícios da Liberdade para nós e para os nossos
Descendentes, promulgamos e estabelecemos esta Constituição para os
Estados Unidos da América”. A Constituição afirma claramente que o povo é
soberano e que o governo legítimo advém da vontade popular. Mas não
define quem é esse povo nem a base na qual os indivíduos são
considerados parte da comunidade nacional.
Esse
silêncio na Constituição americana levanta algumas questões
importantes: de onde surge a identidade nacional em primeiro lugar, e
como ela é definida? O que compõe um “povo”, cuja soberania é a base
para a escolha democrática? Está o multiculturalismo, tanto enquanto
ideologia e como um fato da vida, enfraquecendo nosso senso de cidadania
comum e, neste caso, há meios de reconstruir um entendimento comum de
identidade nacional entre as populações com diversidade?
A
omissão da Constituição americana em definir quem é o povo americano é
reflexo de um problema mais amplo de todas as democracias liberais. O
teórico político Pierre Manent observa que a maioria das democracias foi
construída sobre nações já existentes, sociedades nas quais já havia um
senso bem desenvolvido de identidade nacional que definia o povo
soberano. Mas essas nações não foram criadas democraticamente:
Grã-Bretanha, França, Alemanha e Países Baixos foram todos um subproduto
histórico de longas e muitas vezes violentas disputas políticas por
território e cultura em regimes não democráticos. Quando essas
sociedades se democratizaram, sua extensão territorial e suas populações
existentes foram simplesmente consideradas como a base para a soberania
popular. História parecida poderia ser contada no caso do Japão e da
Coreia, que eram nações séculos antes de se democratizarem e não tiveram
disputas em relação à definição de povo ao abrirem seu sistema político
para a escolha democrática.

Manent
identifica uma importante lacuna na teoria democrática moderna.
Pensadores como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau,
Immanuel Kant, os autores de O Federalista e John Stuart Mill entendiam
que o mundo era pré-dividido em nações que constituíam a base da escolha
democrática. Não ofereceram teorias para explicar por que a fronteira
entre os Estados Unidos e o México deveria acompanhar o Rio Grande, se a
Alsácia deveria pertencer à França ou à Alemanha, se Quebec deveria ser
parte do Canadá ou formar uma “sociedade distinta”, se havia uma
justificativa legítima para a Catalunha se separar da Espanha ou qual
nível de imigração deveria ser permitido pelos países.
Essa
teorização foi deixada para outras pessoas. Os nacionalistas, do
polemista acadêmico alemão Paul de Lagarde (1827–91) a Adolf Hitler,
baseavam suas definições de nação na biologia e argumentavam que as
nações do mundo eram entidades raciais que existiram desde tempos
imemoriais. Outros definiam a nação como uma cultura herdada
supostamente imutável. Tais teorias proveram justificativa para
nacionalismos agressivos da Europa do início do século 20, cujos
expoentes foram derrotados com a queda do nazismo em 1945.
Do
outro lado do espectro, aqueles que poderiam ser caracterizados como
“cosmopolitas globais” argumentam que os próprios conceitos de
identidade nacional e de soberania de Estado são antiquados e precisam
ser substituídos por identidades e instituições transnacionais mais
amplas. Aqueles que pertencem a essa escola de pensamento se baseiam em
dois tipos de argumento. O primeiro é econômico e funcional: seus
proponentes argumentam que os problemas atuais são globais em escopo e,
portanto, precisam de uma resposta global. As questões por eles evocadas
variam de comércio e investimento ao contraterrorismo, meio ambiente,
doenças infecciosas, narcóticos, tráfico humano e muitas outras. Nessa
visão, nações e identidades nacionais são obstáculos potenciais à
cooperação internacional e precisam ser gradualmente substituídas por
uma nova camada de regras e organizações transnacionais.
A
segunda linha de argumento é mais teórica e tem origem no direito
internacional dos direitos humanos. As democracias liberais são
construídas sobre a premissa da igualdade universal entre as pessoas, e
essa igualdade não começa nem termina nas fronteiras nacionais. A
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 tornou-se a base para
um conjunto crescente de legislação internacional assegurando que os
direitos são inerentes a todos os seres humanos e devem ser respeitados
por todas as nações. À medida que os direitos humanos internacionais
evoluíram, cresceram também as obrigações de Estados não apenas para com
seus cidadãos, mas também para com imigrantes e refugiados. Algumas
pessoas defendem até mesmo um direito universal de migrar.
Ambos
os argumentos são válidos até certo ponto. Mas não enfraquecem a ideia
de uma ordem internacional construída em torno de Estados nacionais ou a
ideia de se cultivar o tipo ideal de identidade nacional dentro desses
Estados. A ideia de que os Estados são obsoletos e deveriam ser
substituídos por órgãos internacionais é falha porque ninguém foi capaz
de criar um bom método de responsabilização democrática desses órgãos. O
funcionamento de instituições democráticas depende de normas e
perspectivas compartilhadas e, em última medida, de uma cultura
compartilhada — o que pode existir no nível do Estado Nacional, mas que
não existe internacionalmente. Em lugar disso, a cooperação
internacional efetiva tem se baseado em torno da cooperação entre
Estados existentes. Por décadas, as nações têm aberto mão de parte de
sua soberania para atingir seus interesses nacionais. Os tipos de
acordos cooperativos necessários para resolver uma gama de questões
internacionais podem continuar a ser feitos dessa forma.
A
obrigação de respeitar direitos humanos universais foi assumida
voluntariamente pela maioria dos países do mundo, e com razão. Mas todas
as democracias liberais são construídas sobre Estados, cuja jurisdição é
limitada por suas fronteiras. Nenhum Estado pode assumir uma obrigação
ilimitada de proteger pessoas fora de sua jurisdição, e não está nada
claro que o mundo estaria ou se tornaria melhor se todos os Estados
tentassem fazê-lo. Embora os países sintam corretamente uma obrigação
moral para abrigar refugiados e possam receber imigrantes, tais
obrigações são potencialmente custosas tanto economicamente como
socialmente, e as democracias precisam encontrar o equilíbrio entre essa
e outras prioridades. Democracia significa que o povo é soberano, mas,
se não houver como delimitar quem é esse povo, não é possível exercer a
escolha democrática. Portanto, a ordem política, tanto no nível
doméstico como no internacional, depende da existência continuada de
democracias liberais com o tipo ideal de identidades nacionais
inclusivas.





Nenhum comentário:
Postar um comentário