
sábado, 30 de setembro de 2023
Do universalismo de Luther King ao tribalismo identitarista: o novo racismo.
BLOG ORLANDO TAMBOSI
Opondo-se à visão universalista de King, a visão iliberal tem moldado a luta contra o racismo nos Estados Unidos. É uma visão que nos encerra em identidades tribais e inibe a possibilidade de diálogo. Patrícia Fernandes para o Observador:
O discurso de Luther King
O
dia 28 de agosto ocupa um lugar central na história dos Estados Unidos:
foi nesse dia, em 1963, que teve lugar a célebre March on Washington
for Freedom and Jobs, que juntou mais de 250 mil pessoas em frente do
Lincoln Memorial com o objetivo de apoiar a legislação de direitos civis
que o Presidente John F. Kennedy procurava aprovar no Congresso.
Esta
mobilização resultou da intensificação da luta dos afroamericanos que,
nos últimos anos, reivindicava o reconhecimento de uma igualdade efetiva
perante a lei e a superação das chamadas leis Jim Crow, que mantinham
nos estados do sul a segregação racial desde o final do século XIX.
Apesar das emendas à Constituição que foram aprovadas após a guerra da
secessão (a 13.ª emenda aboliu a escravatura em 1865; a 14.ª emenda
garantia cidadania e igual proteção da lei a todos aqueles que nasçam ou
sejam naturalizados nos Estados Unidos, incluindo antigos escravos, de
1868; e a 15.ª emenda garantia o direito de voto aos homens negros),
muitos estados do sul mantinham leis que limitavam ou impediam o
exercício do direito de voto dos afroamericanos, permitiam o
funcionamento de escolas segregadas e admitiam a discriminação em função
da raça em hotéis, restauração ou autocarros.
As
leis Jim Crow foram legitimadas pela decisão Plessy v. Ferguson, de
1896, que estabeleceu o princípio “separados mas iguais”, considerando
que tais leis não violavam a constituição norte-americana desde que os
serviços fossem igualmente oferecidos a negros e brancos. Esta cláusula
injusta foi alvo de contínuo protesto judicial, nomeadamente pela maior e
mais antiga organização de direitos civis dos afroamericanos: a NAACP
(National Association for the Advancement of Colored People), criada em
1909. Mas apenas em 1954 a NAAPC pôde reivindicar a sua grande vitória
com a famosa decisão Brown v. Board of Education, na qual o Supremo
Tribunal proibiu a segregação racial nas escolas públicas. Foi um passo
decisivo para o início dos anos de luta pelos direitos civis que duraria
praticamente até ao final dos anos de 1960 com a morte de Martin Luther
King Jr.
Luther
King assumiu protagonismo com o chamado Montgomery Bus Boycott (que
começa com a história lendária de Rosa Parks), protesto que durou mais
de um ano, entre o dia 5 de dezembro de 1955 e o dia 20 de dezembro do
ano seguinte, até finalmente ser decidida a proibição da segregação
racial nos autocarros. O talento oratório de Luther King tornaram-no uma
figura de referência durante aquele protesto, e foi ele que assumiu o
protagonismo na Marcha sobre Washington, quando proferiu aquele que se
tornaria um dos discursos mais importantes da história ocidental: “I have a dream”.
O daltonismo liberal
Apesar
de curto, encontramos em “I have a dream” as principais linhas
orientadoras do pensamento de Martin Luther King, sedimentadas na
tradição evangélica do cristianismo (King era pastor batista) e que o
levou à defesa de um princípio de não violência e da doutrina da
fraternidade e do amor na política. Filosoficamente, King assume-se como
herdeiro dos valores do liberalismo filosófico que orientavam os
Founding Fathers e é nessa medida que exige as consequências últimas e
efetivas daqueles valores:
“Quando
os arquitetos da nossa República escreveram as magníficas palavras da
Constituição e da Declaração de Independência, eles estavam a assinar
uma nota promissória de que todos os americanos seriam herdeiros. Esta
nota era uma promessa de que a todos os homens – sim, tanto negros como
brancos – seriam garantidos os direitos inalienáveis à vida, liberdade e
busca de felicidade. É hoje óbvio que a América está em falta quanto ao
pagamento desta nota promissória no que diz respeito aos seus cidadãos
de cor. Em vez de honrar esta obrigação sagrada, a América deu à
população negra um cheque sem cobertura, um cheque que tem sido
devolvido com a indicação de fundos insuficientes.”
King
não hesita, por isso, em citar as palavras da Declaração de
Independência, que estabelecem os princípios liberais do sonho
norte-americano: “Consideramos estas verdades evidentes por si mesmas,
que todos os homens são criados iguais”. Em causa estão direitos iguais
perante a lei e as mesmas liberdades e oportunidades para todos os
cidadãos. É nesse sentido que segue aquela que será a frase mais citada do discurso:
“Eu
tenho o sonho de que os meus quatro pequenos filhos viverão um dia numa
nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo
do seu caráter.”
É
essencial considerar esta argumentação liberal de King, uma vez que
este período de luta social é marcado por uma enorme complexidade,
contando com a mobilização de vários grupos de protesto, desde o
movimento Black Power aos projetos de nacionalismo negro, que defendiam
formas violentas de luta e visões políticas de separatismo racial.
Luther King manteve-se afastado destes movimentos separatistas, apelando
à não-violência e defendendo sempre a possibilidade da criação de um
país pós-racial.
Em
1967, na celebração dos dez anos sobre a criação da Southern Christian
Leadership Conference, Luther King discursa a pensar no futuro: “Where do we go from here?”.
Reconhece as conquistas realizadas na última década, mas aponta que
ainda há muito a fazer, pelo que recorre à lição de Jesus a Nicodemos
para traçar o desafio norte-americano: “a América deve nascer de novo”. E
embora aponte o dedo ao sistema económico, que se traduz em exploração e
condena tantos dos seus cidadãos à pobreza, mantém a mensagem
pós-racial e universalista.
O novo racismo
O
sonho de direitos e oportunidades iguais expresso por King, a partir de
uma tradição universalista cristã, espelhava o espírito liberal que fez
os Estados Unidos acreditarem ser possível tornarem-se uma sociedade
pós-racial, isto é, uma sociedade onde a cor de pele deixasse de ser
relevante, o mesmo é dizer, onde o racismo fosse erradicado ou, pelo
menos, minimizado. Quando Barack Obama foi eleito em 2008, muitos viram
nesse momento a concretização de uma sociedade pós-racial, construída
desde a longa década de luta pelos direitos civis. Finalmente o país
teria conseguido sarar as feridas de um nascimento marcado pela
escravatura; finalmente poderia proclamar, apesar dos problemas ainda
remanescentes, a igualdade de todos os cidadãos perante a lei.
Não
é este, porém, o entendimento dos autores e ativistas que, a partir da
teoria crítica da raça, continuam a denunciar um racismo profundo que
marcaria a sociedade norte-americana, sem reconhecer quaisquer melhorias
recentes. Mais do que isso, parecem considerar que as condições estão
ainda piores e que o daltonismo ou cegueira de cor é uma ideologia
racista, e ainda mais perigosa do que o racismo das leis Jim Crow. Por
que razão?
Robin DiAngelo, em Fragilidade Branca, diz-nos que,
“[e]mbora
a ideia de cegueira cromática possa ter começado por ser uma estratégia
bem-intencionada para romper com o racismo, na prática ela serviu para
negar a realidade do racismo e, assim, perpetuá-lo.”
Isso acontece porque, como diz Eduardo Bonilla-Silva, no livro Racismo sem racistas:
“Enquanto
para o racismo Jim Crow a posição social dos negros se devia à sua
inferioridade biológica e moral, o racismo da cegueira de cor evita tais
argumentos simplistas. Em vez disso, os brancos racionalizam o status
contemporâneo das minorias como o produto da dinâmica de mercado, de
fenómenos que ocorrem naturalmente e das limitações culturais imputadas
aos negros.”
“Os
brancos” explicariam então a atual desigualdade racial como resultado
de razões não raciais, menosprezando o papel do racismo na produção
dessas desigualdades – e, assim, a ideologia da cegueira de cor, longe
de ser um comportamento não racista, é na verdade “fundamental para
preservar o privilégio branco”.
Embora
este argumento tenha algum mérito, importa não esquecer o seu
pressuposto identitário: estes autores exigem, na sua argumentação, que
reconheçamos uma determinada identidade (branca ou não branca) e
condicionemos a nossa visão do mundo, dos dados e da experiência a essa
identidade. A consciencialização da identidade branca (“nomear a
branquitude”) é particularmente importante para “os brancos”, uma vez
que estes resistem a compreender que não falam por todos, mas apenas
pelo seu grupo e pelos seus privilégios (é a ilusão liberal da
universalidade). Como diz DiAngelo:
“Dizer
que a branquitude é uma perspetiva a partir da qual as pessoas brancas
olham para si mesmas, para os outros e para a sociedade é dizer que um
aspeto importante da identidade branca é vermo-nos a nós mesmos como
indivíduos, fora da raça ou inconscientes dela – “apenas humanos”. Este
posicionamento vê as pessoas brancas e os seus interesses como centrais
para a humanidade e como representativos dela. Os brancos também
produzem e reforçam as narrativas dominantes da sociedade – como a do
individualismo e a da meritocracia – e usam-nas para explicar as
posições dos outros grupos raciais. Estas narrativas permitem-nos
congratularmo-nos pelo nosso sucesso dentro das instituições da
sociedade e culpar os outros pela sua falta de sucesso.”
Opondo-se
à visão universalista de King, esta visão iliberal tem moldado a luta
contra o racismo nos Estados Unidos e vai chegando à Europa, apesar de
as condições serem aqui substancialmente diferentes. É uma visão que nos
encerra em identidades tribais e inibe a possibilidade de diálogo. E
embora quase sempre reclamem a herança de Luther King, têm na verdade
pouca relação com o seu pensamento. Basta recordar como King termina o discurso de 1967:
“Continuaremos insatisfeitos até ao dia em que ninguém gritará “Poder
branco!”, nem ninguém gritará “Poder negro!”, mas todos falem do poder
de Deus e do poder humano.” Já os novos ativismos remetem-nos para
identidades e para o conflito. Ou como diz Michel Onfray, em Autos-de-Fé:
“Doravante,
o novo horizonte inultrapassável é o da regressão no sentido das hordas
primitivas de que Darwin falava n’A Origem do Homem: lugar às tribos,
às etnias, às raças, ao sangue, às pigmentações.”
Postado há 3 weeks ago por Orlando Tambosi
Corrupção, o nosso esporte nacional.
BLOG ORLANDO TAMBOSI
Toffoli anula provas de desvios, enquanto a sociedade se divide em torcidas a favor de políticos ou dos magistrados. Lygia Maria para a FSP:
Toffoli anula provas de desvios, enquanto a sociedade se divide em torcidas a favor de políticos ou dos magistrados. Lygia Maria para a FSP:
No
Brasil, a corrupção é como o futebol: não inventamos, mas
aperfeiçoamos, adicionamos gingado e atingimos excelência ao ponto dessa
atividade virar patrimônio nacional reconhecido mundialmente. O mau
trato da coisa pública, assim como a burrice na canção de Tom Zé, "não tem preconceito nem ideologia, anda na esquerda, anda na direita, não escolhe causa e nada rejeita".
A
corrupção grassa em todas as esferas de poder e se espraia por legendas
partidárias. No entanto deve-se admitir que, nas passagens do PT pelo
Planalto, foi bastante organizada.
Tínhamos
planilhas com valores, codinomes e até um "departamento da propina"
numa das maiores empreiteiras do país. Uma seleção da Copa de 70 em
matéria de desvios, trocas de favores e outras maracutaias nada
republicanas.
Mas, agora, todo esse acervo foi considerado imprestável pelo ministro Dias Toffoli, do STF. Na última semana, o magistrado tornou inadmissíveis as provas oriundas de acordos de leniência da Odebrecht.
Assim,
numa canetada, lá se vão os registros dos feitos de "Aracaju", "Gordo",
"Jacaré", "Louro", "Maçaranduba", "Pescador", "Soneca" e outros craques
desse escrete canarinho.
Em
matéria de corrupção, por aqui, até a torcida é organizada. No caso em
tela, temos a que, na defesa irascível de políticos, é contra a Lava Jato e, do outro lado, os fãs entusiasmados da operação.
A
decisão de Toffoli foi saudada pela esquerda, mesmo que as delações
também se refiram a partidos de direita ou centro-direita, como DEM, PP,
PSDB e outros. Já os lavajatistas ignoram indícios de conluio
inadmissível entre procuradores e o então juiz Sergio Moro.
Ambos
caem no erro de levar a sério a metáfora futebolística, ao idolatrarem
ou políticos ou juízes, aprofundando ainda mais a polarização em uma
sociedade já dividida. Deixemos as paixões para o esporte e tratemos a
política e a Justiça com sensatez. Porque até agora, nessa partida,
vencem os corruptos e perde a sociedade brasileira.
Postado há 3 weeks ago por Orlando Tambosi
Do bullying na escola à compra do Twitter, a vida de Elon Musk em livro.
BLOG ORLANDO TAMBOSI
Sofreu bullying na infância, deixou de falar com o pai e comprou o Twitter. Da vida pessoal aos negócios, a história de Elon Musk é contada numa nova biografia. O Observador pré-publica um excerto:

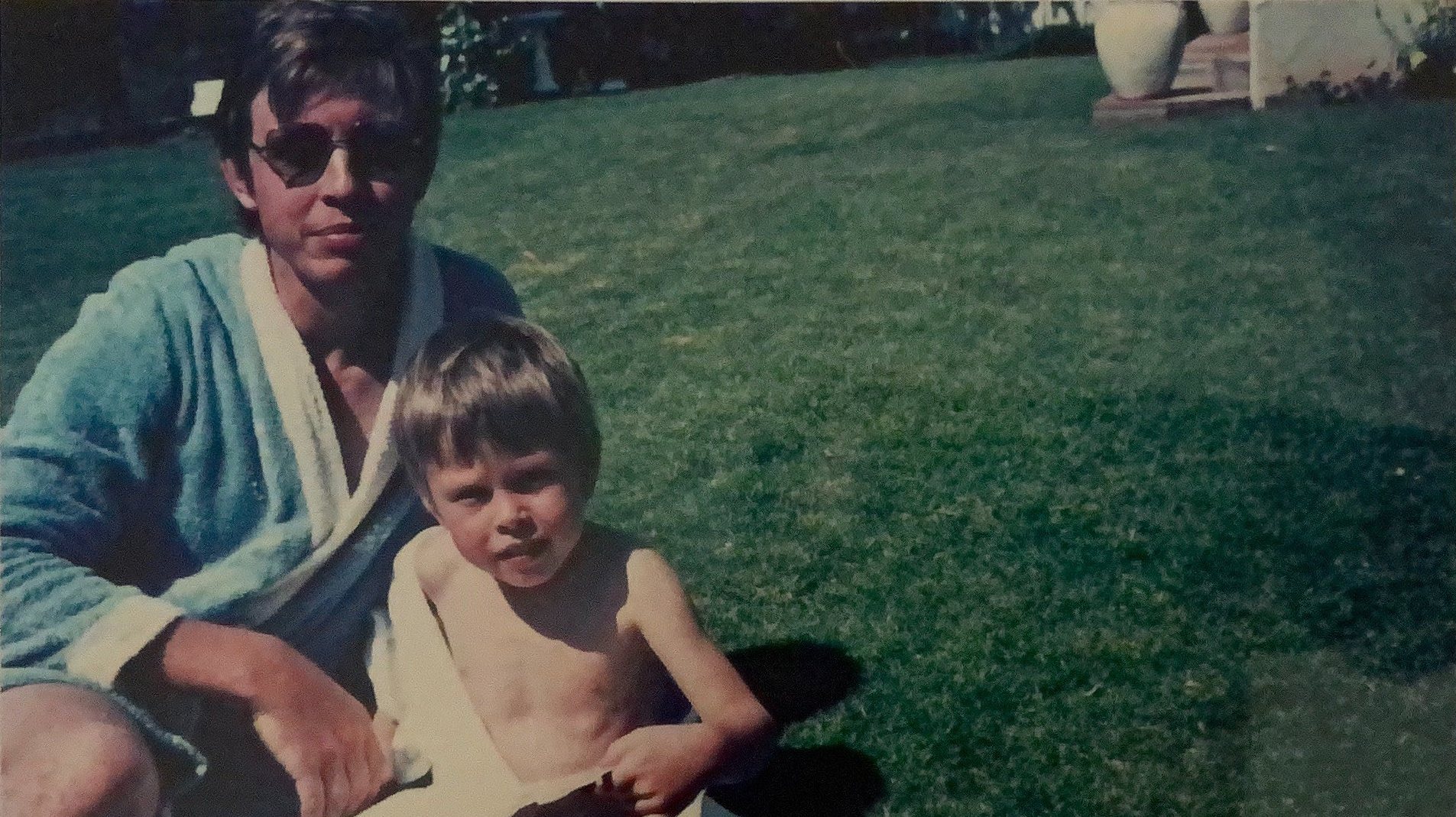
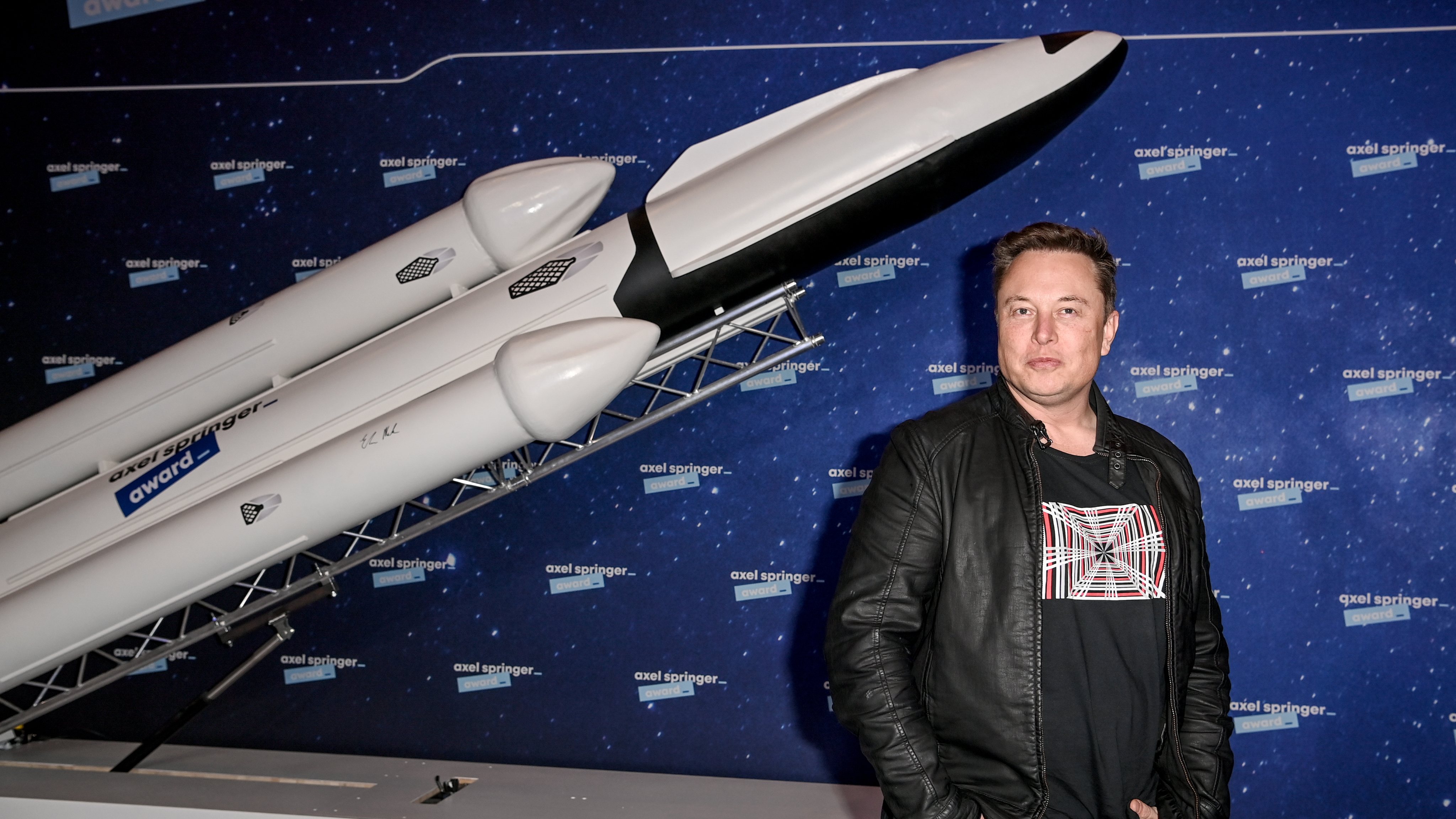
Sofreu bullying na infância, deixou de falar com o pai e comprou o Twitter. Da vida pessoal aos negócios, a história de Elon Musk é contada numa nova biografia. O Observador pré-publica um excerto:
A
infância de Elon Musk na África do Sul não foi fácil. Aos seis anos,
enquanto corria na rua, foi atacado pelo seu cão preferido. Na escola
era vítima de bullying e, certa vez, chegou a ficar internado durante
uma semana após ter sido empurrado de umas escadas e pontapeado no
rosto. Ao ter alta, relembra, ficou uma hora de pé a ouvir o pai gritar e
a chamá-lo de “idiota” e de “inútil”.
Da
relação com o pai — com quem deixou de falar — aos negócios, que vão
desde os carros elétricos à Inteligência Artificial, a vida de Elon Musk
é contada ao longo de 500 páginas. A compra do Twitter, que várias
vezes disse ser a sua rede social preferida, acontece num ano em que,
revela pela primeira vez, percebeu que precisava de “mudar de
mentalidade” e “sair do modo de crise”.
“Elon
Musk” é o título do livro da autoria de Walter Isaacson, que também
escreveu as biografias de Steve Jobs, Albert Einstein, Benjamin Franklin
e Henry Kissinger. O Observador faz a pré-publicação de um excerto do
livro que conta a história do multimilionário, editado pela Objectiva
(uma chancela da Penguin Random House), que chega às livrarias na
próxima terça-feira, dia 12 de setembro.

Musa de Fogo
Durante a infância passada na África do Sul, Elon Musk soube o que era sentir dor e aprendeu a sobreviver-lhe.
Aos
doze anos, foi levado de autocarro para um veldskool, um acampamento de
sobrevivência na selva. «Era um Senhor das Moscas paramilitar»,
recorda. Os miúdos recebiam pequenas rações de comida e água e tinham
autorização — na verdade, eram encorajados — para lutar por elas. «O
bullying era considerado uma virtude», diz Kimbal, o seu irmão mais
novo. Os rapazes grandes aprendiam depressa a dar socos na cara aos mais
pequenos para lhes tirarem tudo o que tinham. Elon, que era pequeno e
emocionalmente estranho, foi espancado duas vezes. Acabou por emagrecer
quatro quilos e meio.
Perto
do final da primeira semana, os rapazes foram divididos em dois grupos e
instruídos para se atacarem uns aos outros. «Foi uma loucura,
alucinante», recorda Musk. Quase todos os anos um miúdo morria. Os
monitores contavam essas histórias como avisos. «Não sejas estúpido como
aquele imbecil imprestável que morreu no ano passado», diziam. «Não
sejas o imbecil fraco e imprestável.»
Elon
estava prestes a fazer dezasseis anos quando foi para o veldskool pela
segunda vez. Estava mais desenvolvido, tinha um metro e oitenta e dois
centímetros de altura e uma estrutura forte como um urso, e tinha
aprendido judo. Assim, o veldskool não foi muito mau. «Naquela altura já
tinha percebido que, se alguém me intimidasse, se lhe desse um murro
forte no nariz não voltaria a perseguir-me. Podia levar uma enorme
tareia, mas se lhe desse um valente murro no nariz nunca mais me
perseguia.»
Na
década de 1980 a África do Sul era um lugar violento, onde eram comuns
os ataques com metralhadoras e as mortes por esfaqueamento. Numa
ocasião, ao saírem de um comboio para irem assistir a um dos concertos
de música antiapartheid, Elon e Kimbal tiveram de passar por uma poça de
sangue junto de um cadáver que ainda tinha a faca espetada na cabeça.
Durante o resto da noite, ouviram o barulho peganhento do sangue nas
solas das sapatilhas a colar-se ao chão.
A
família Musk tinha pastores-alemães que eram treinados para atacar
qualquer pessoa que corresse junto à casa. Quando tinha seis anos, Elon
estava a correr na rua e o seu cão preferido atacou-o, arrancando-lhe um
enorme pedaço de carne das costas. No Serviço de Urgências, quando se
preparavam para o suturar, ele resistiu a ser tratado enquanto não lhe
prometeram que o cão não seria castigado. «Não vão matá-lo, pois não?»,
perguntou Elon. Garantiram-lhe que não. Enquanto conta a história, Musk
faz uma pausa e olha para o vazio durante muito tempo. «E depois,
mataram o raio do cão.»
As
suas experiências mais dolorosas tiveram lugar na escola. Durante muito
tempo foi o aluno mais novo e baixo da turma. Tinha dificuldade em
perceber as pistas sociais. Não era naturalmente empático e não tinha o
desejo nem o instinto de ser adulador. Em resultado disso, costumava ser
atormentado por rufiões, que se aproximavam dele e lhe davam murros no
rosto. «Quem nunca levou um murro no nariz não faz ideia de como isso
afeta uma pessoa para o resto da vida», confessa.
Uma
manhã, antes de as aulas começarem, um aluno que andava na palhaçada
com um grupo de amigos chocou contra ele. Elon empurrou-o. Houve uma
troca de palavras. O rapaz e os amigos perseguiram Elon durante o
intervalo e encontraram-no a comer uma sanduíche. Aproximaram-se por
trás, deram-lhe pontapés na cabeça e empurraram-no por um lance de
escadas de cimento. «Sentaram-se em cima dele e continuaram a bater-lhe e
a dar-lhe pontapés na cabeça», conta Kimbal, que estava sentado ao pé
do irmão. «Quando acabaram, nem sequer consegui reconhecer-lhe a cara.
Era uma bola de carne tão inchada que quase não se viam os olhos.» Elon
foi levado para o hospital e faltou à escola durante uma semana. Décadas
mais tarde, ainda fazia cirurgias corretivas para tentar reconstruir os
tecidos no interior do nariz.
Porém,
as mazelas físicas eram insignificantes quando comparadas com as
feridas emocionais infligidas pelo seu pai, Errol Musk, um carismático e
engenhoso fantasista que agia por conta própria e que ainda hoje
atormenta Elon. Depois da luta na escola, Errol ficou do lado do miúdo
que esmurrou o rosto do filho. «O rapaz tinha acabado de perder o pai,
que se suicidou, e Elon chamou-lhe estúpido», conta Errol. «Elon tinha
tendência para chamar estúpidas às pessoas. Como posso culpar aquela
criança?»
Quando,
por fim, Elon teve alta do hospital, o pai repreendeu-o. «Tive de ficar
de pé uma hora a ouvi-lo gritar comigo, a chamar-me idiota e a dizer-me
que era um inútil», recorda Elon. Kimbal, que teve de assistir à
invetiva, afirma que foi a pior memória da sua vida. «O meu pai perdeu a
cabeça, passou-se, como acontecia muitas vezes. Ele tinha zero
compaixão.»
Tanto
Elon como Kimbal, que deixaram de falar com o pai, afirmam que a sua
alegação de que foi Elon quem provocou o ataque é descabida e o
perpetrador acabou por ser enviado para uma casa de correção por causa
disso. Dizem que o pai é um fabulista volátil com tendência para contar
histórias mirabolantes repletas de fantasia, por vezes deliberadas e
outras delirantes. Alegam que ele tem uma natureza de Jekyll e Hyde. Num
momento podia ser simpático, e no seguinte passar uma hora ou mais a
proferir duros insultos. Terminava todas as tiradas dizendo a Elon que
era patético. Elon tinha de permanecer de pé e não podia afastar-se.
«Era tortura mental», afirma Elon, fazendo uma longa pausa e
comovendo-se um pouco. «Não há dúvida que ele sabia tornar tudo
terrível.»
Quando
telefonei a Errol, ele conversou comigo durante quase três horas e
manteve-se em contacto regular com telefonemas e mensagens de texto ao
longo dos dois anos seguintes. Estava ansioso para me falar e enviar-me
fotografias das coisas boas que proporcionou aos filhos, pelo menos
durante os períodos em que os seus negócios como engenheiro corriam bem.
A determinada altura conduzia um Rolls Royce, construiu uma cabana no
mato com os filhos e recebeu esmeraldas em bruto de um proprietário de
uma mina na Zâmbia, até que o negócio faliu.
Porém,
admite que encorajou a dureza física e emocional. «As experiências
deles comigo devem ter feito com que o veldskool parecesse muito
inofensivo», afirma, acrescentando que a violência fazia parte da
experiência de aprendizagem na África do Sul. «Dois seguravam-nos
enquanto outro nos batia na cara com um pau e objetos do género. Os
novos alunos eram obrigados a lutar com o rufião da escola logo no
primeiro dia de aulas.» Reconhece com orgulho que exerceu «uma
autocracia extremamente severa direcionada para os perigos da rua» com
os filhos. Depois, faz questão de acrescentar: «Mais tarde, Elon aplicou
a mesma autocracia rígida a ele próprio e a outras pessoas.»
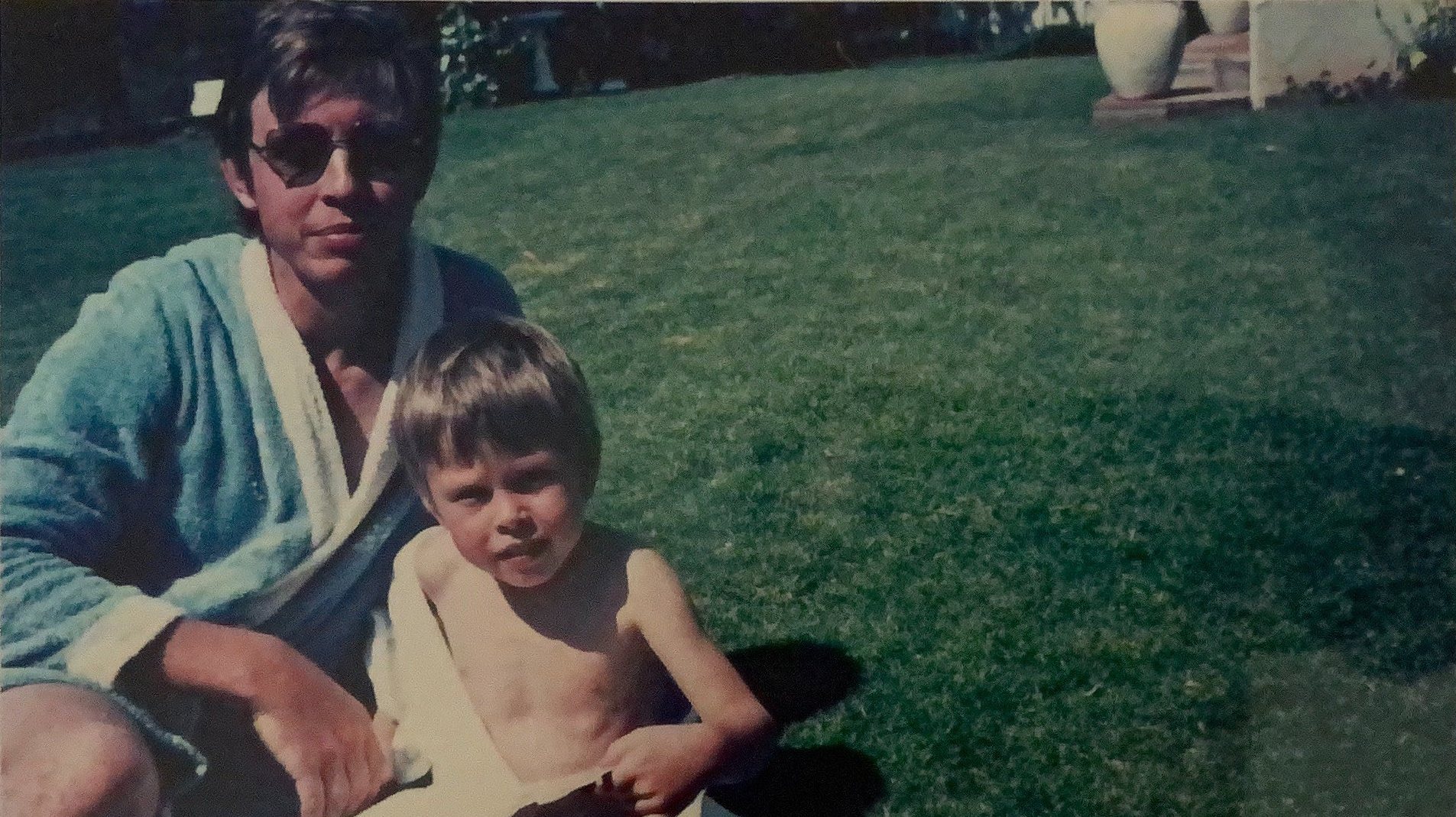
Elon Musk, em criança, junto ao seu pai, Errol Musk, com quem atualmente não mantém uma relação
«Alguém
disse uma vez que todos os homens tentam corresponder às expectativas
do pai ou corrigir os seus erros», escreveu Barack Obama no seu livro de
memórias, «e acho que isso pode explicar o meu problema em particular.»
No caso de Elon Musk, o impacto que o pai teve na sua mente iria
manter-se durante muito tempo, apesar de muitas tentativas de
afastamento, tanto físico como psicológico. Os seus humores oscilavam
entre o iluminado e o sombrio, jovial e obstinado, distante e emocional,
com mergulhos ocasionais num «modo de demónio» que era temido por todos
aqueles que o rodeavam. Ao contrário do pai, ele viria a ser carinhoso
com os filhos, mas o seu comportamento também sugeria um perigo que
tinha de ser constantemente combatido: a desagradável expectativa de,
como disse a mãe, «poder tornar-se igual ao pai». Este é um dos tropos
mais ressonantes da mitologia. Até que ponto a épica busca do herói de
Guerra das Estrelas requer a exorcização dos demónios legados por Darth
Vader e a luta contra o lado negro da Força?
«Com
uma infância como a que teve na África do Sul, penso que é preciso
encontrar maneiras de se fechar a nível emocional», afirma a sua
primeira mulher, Justine, mãe de cinco dos seus dez filhos vivos. «Se o
nosso pai está sempre a chamar-nos imbecis e idiotas, talvez a única
resposta seja desligar tudo no íntimo para abrir uma dimensão emocional
cujas ferramentas ele não tinha para processar.» Esta válvula emocional
que lhe permitia desligar-se pode tê-lo tornado insensível, mas também
fez dele um inovador que gosta de correr riscos. «Elon aprendeu a
desligar o medo», diz Justine. «Quando desligamos o medo, talvez também
tenhamos de desligar outras coisas, como a alegria ou a empatia.»
O
stress pós-traumático da sua infância também incutiu nele uma aversão
pelo contentamento. «Penso que ele não sabe saborear o sucesso e cheirar
as flores», afirma Claire Boucher, a artista conhecida como Grimes e
mãe de três dos seus filhos. «Penso que ele foi condicionado na infância
para acreditar que a vida é dor.» Musk concorda. «A adversidade fez de
mim quem sou», explica. «O meu limiar de dor tornou-se muito elevado.»
Em
2008, durante um período particularmente infernal da sua vida, depois
de os três primeiros foguetões lançados pela SpaceX terem explodido e
quando a Tesla estava à beira da falência, ele acordava muito agitado e
contava a Talulah Riley, que se tornaria a sua segunda mulher, as coisas
horríveis que o pai lhe dizia. «Eu ouvia-o a usar as mesmas frases»,
diz ela. «Aquilo teve um efeito profundo no modo como ele age.» Quando
recordava aquelas memórias, Elon desligava e parecia desaparecer atrás
dos olhos cor de aço. «Creio que não tinha consciência de como tudo
ainda o afetava porque pensava naquilo como algo da infância», declarou
Riley. «Mas ficou com um lado infantil, quase atrofiado. Dentro do homem
continua a existir uma criança, uma criança que está parada diante do
pai.»
Fora
deste caldeirão, Musk desenvolveu uma aura que por vezes faz com que
pareça um extraterrestre, como se a sua missão a Marte fosse a aspiração
de voltar para casa e o seu desejo de construir robôs humanoides a
procura de afinidade. Não ficaríamos de todo chocados se ele arrancasse a
camisa e descobríssemos que não tem umbigo e que não nasceu neste
planeta. No entanto, a sua infância também o tornou demasiado humano, um
rapaz duro, mas vulnerável, que decidiu embarcar em buscas épicas.
Musk
desenvolveu um fervor que escondia a patetice, e uma patetice que
escondia o fervor. Um pouco desconfortável com o corpo, como um homem
grande que nunca foi atleta, caminhava com a passada de um urso com um
espírito de missão e movimentos de dança que pareciam ter sido ensinados
por um robô. Com a convicção de um profeta, falava da necessidade de
alimentar a chama da consciência humana, de sondar o universo e de
salvar o nosso planeta. De início pensei que era apenas teatro,
conversas motivadoras para incentivar o moral das equipas e fantasias de
podcast de um homem-criança que leu demasiadas vezes À Boleia Pela
Galáxia. Contudo, quanto mais me deparava com essa convicção, mais
passei a acreditar que o espírito de missão fazia parte do que o
motivava. Enquanto outros empreendedores se esforçavam por desenvolver
uma visão do mundo, ele desenvolvia uma visão cósmica.
A
sua herança e educação tornaram-no por vezes insensível e impulsivo.
Também o levaram a ter uma tolerância extremamente elevada ao risco. Ele
conseguia calculá-lo com frieza e também o abraçava com fervor. «Elon
quer o risco pelo risco», diz Peter Thiel, que se tornaria seu sócio nos
primeiros tempos da PayPal. «Parece gostar do risco e, na verdade, em
certas alturas até parece viciado nele.»
Musk
tornou-se uma daquelas pessoas que se sentem mais vivas quando um
furacão se aproxima. «Nasci para uma tempestade e a calma não me
satisfaz», afirmou Andrew Jackson certa vez. O mesmo se passa com Musk.
Ele desenvolveu uma mentalidade defensiva que incluía uma atração, por
vezes um desejo, por tempestade e drama, tanto no trabalho como nas
relações românticas, pelas quais se esforçou mas que não conseguiu
manter. Prosperava nas crises, nos prazos e nos enormes picos de
trabalho. Quando enfrentava desafios difíceis, a tensão costumava
mantê-lo acordado à noite e fazia-o vomitar. Porém, também o energizava.
«Ele é um íman de drama», diz Kimbal. «É a sua compulsão, o tema da sua
vida.»
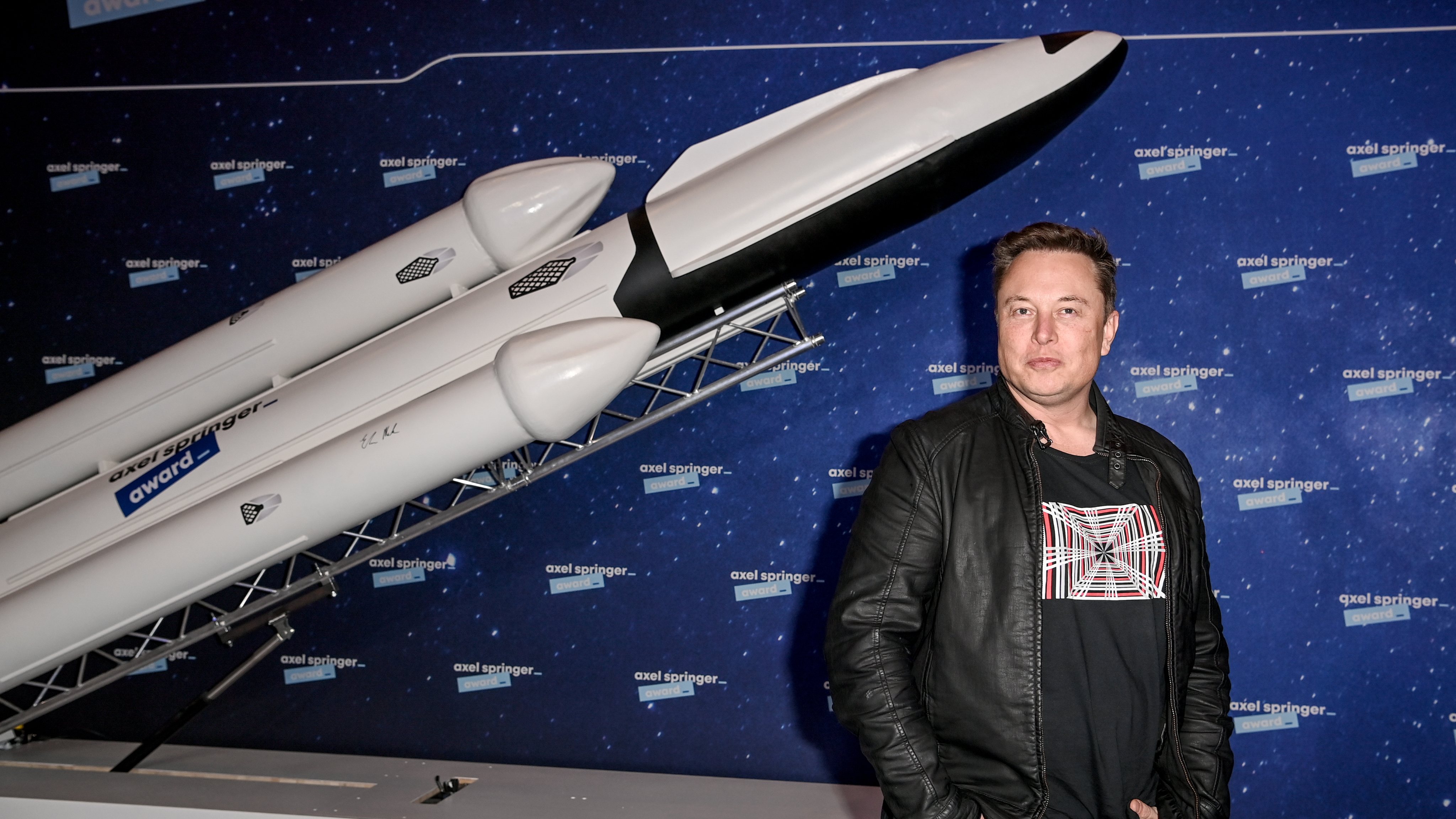
O ano de 2021 ficou marcado por 31 lançamentos de foguetes da SpaceX
No
início de 2022 — depois de um ano marcado por 31 lançamentos de
foguetes da SpaceX, pela marca de um milhão de carros vendidos pela
Tesla e de se tornar o homem mais rico do mundo —, Musk falou com pesar
sobre a sua compulsão para criar dramas. «Preciso de mudar de
mentalidade, sair do modo de crise, que é como tenho funcionado nos
últimos catorze anos, pelo menos, se não a maior parte da minha vida»,
disse-me.
Foi
um comentário melancólico, não uma resolução de Ano Novo. Ao mesmo
tempo que se comprometia a mudar, comprava, em segredo, ações do
Twitter, o melhor recreio do mundo. Nesse mês de abril, eclipsou-se para
a casa que o seu mentor, Larry Ellison, o fundador da Oracle, possui no
Havai, na companhia da atriz Natasha Bassett, uma namorada ocasional.
Tinha-lhe sido oferecido um lugar no conselho de administração do
Twitter, mas durante o fim de semana chegou à conclusão de que não era
suficiente. Estava na sua natureza querer o controlo total. Assim,
decidiu fazer uma OPA hostil para adquirir a empresa. Em seguida, viajou
para Vancouver para se encontrar com Grimes. Esteve acordado com ela
até às cinco da manhã a jogar um novo jogo de guerra e de construção de
impérios, o Elden Ring. Assim que terminou, pôs o seu plano em marcha e
entrou no Twitter. «Fiz uma oferta», anunciou.
Ao
longo dos anos, sempre que se encontrava num lugar mais sombrio ou se
sentia ameaçado, Musk relembrava os horrores de ser maltratado no
recreio. Agora, tinha a possibilidade de ser o dono do recreio.
Postado há 3 weeks ago por Orlando Tambosi
De Napoleão a Beethoven: as últimas palavras das figuras mais importantes da história.
BLOG ORLANDO TAMBOSI
Todos nós gostaríamos que nossas últimas palavras ficassem registradas para a eternidade, mas nesses últimos momentos de vida é complicado pensar em algo engenhoso. Ada Nuño para El Confidencial:
Todos nós gostaríamos que nossas últimas palavras ficassem registradas para a eternidade, mas nesses últimos momentos de vida é complicado pensar em algo engenhoso. Ada Nuño para El Confidencial:
Aunque
a todos nos gustaría que nuestras últimas palabras quedarán registradas
para la eternidad como interesantes y poéticas, lo cierto es que en
esos últimos momentos de vida a veces es complicado ponerse a pensar
algo lo suficientemente ingenioso como para dejar al mundo. Sin embargo,
algunas figuras históricas si tuvieron esa suerte, o al menos eso es lo
que ha quedado registrado que salió de sus labios antes de espirar.
Quizá
por sorprendentes, misteriosas o graciosas, o porque cuadran mucho con
la idea que tenemos del personaje, algunas de ellas son conocidas por
todos. Aquí recopilamos algunas de las mejores, por personajes que
supieron morir con estilo.
Francia, el Ejército, Josefina
Supuestamente,
esas fueron las últimas palabras de Napoleón Bonaparte antes de morir
el 5 de mayo de 1821 en la isla de Santa Elena, donde se encontraba
recluido. ¿Murió envenenado con arsénico?
A día de hoy la causa exacta de su muerte sigue sin estar clara. De ser
ciertas sus últimas palabras, dijo lo que probablemente para él era más
importante, incluida Josefina, la viuda cinco años mayor que él con la
que vivió una turbulenta (aunque ha pasado a la historia como romántica)
historia de amor durante 13 años de matrimonio.
¿Tú también, Bruto, hijo mío?
¿Dijo
acaso Julio César tal frase? Quién sabe, pero es la que ha pasado a la
historia como expresión de la traición más inesperada, cuando el
emperador vio entre los conspiradores a su hijo.
Plutarco
afirma que no dijo nada y Suetonio que quizá pudo decir en griego:
"¿También tú; hijo?". Pero la frase específica que todos conocemos fue
difundida por la tragedia de William Shakespeare. Eso sí, mucho más épica y chula fue la que se le atribuye a Nerón: "¡Qué artista se pierde el mundo!".
Luz, más luz
Bastante
místicas fueron las últimas palabras del escritor Goethe, que según
parece en su lecho de muerte habría dicho "Licht! Mechr licht!" o, lo
que es lo mismo, "luz, más luz", lo que se interpreta como un último
deseo de adquirir más conocimientos, una iluminación, a las puertas de
su muerte. Curiosamente, las de Carl Jung "¡qué maravilla, qué
maravilla!" también parece muy poética, enmarcada dentro de esos últimos
momentos en los que nadie sabe qué se ve.
Señor, le pido perdón, no lo hice a propósito
Se
supone que esta frase tan tierna y triste salió de los labios de María
Antonieta estando en el patíbulo antes de morir. Al pisar el pie de su
verdugo, se volvió hacia él y se excusó de esta manera. Al contrario que
su marido, no dio ningún discurso ante el pueblo antes de que le
cortaran la cabeza.
A Crátero (o al más fuerte)
Mucho
se ha hablado ya de las que serían las últimas palabras del
conquistador macedonio Alejandro Magno cuando murió en el palacio de
Nabucodonosor en Babilonia, con 32 años. Lo más probable es que dijese
que dejaba su inabarcable imperio a Crátero (Krater'oi) su general más
querido, pero como este no estaba, el resto decidió convenientemente
escuchar que había dicho (Krat'eroi) o, "al más fuerte".
Nunca debí cambiarme del scotch a los martinis
Supuestamente
es la frase que le dijo Humphrey Bogart a su querida Lauren Bacall,
mirándola fijamente a los ojos, antes de morir por culpa de un cáncer de
esófago con 57 años. Bastante acorde con el personaje. De cualquier
manera hay muchas leyendas en torno a esos epitafios dichos por actores
míticos.
También
Marlene Dietrich, según se cuenta, dejó una frase para la posteridad
cuando echó a un sacerdote que venía a hacerle la extremaunción: "¿De
qué voy a hablar yo con usted? Tengo una cita inminente con su jefe".
Lástima, lástima, demasiado tarde
La muerte del compositor Ludwig van Beethoven es, según las leyendas, una de las más épicas de la historia.
No solo (se supone) levantó el puño al cielo como un general dando
órdenes a su ejército, ante un trueno espantoso que sonaba en el momento
exacto de su fallecimiento, sino que las leyendas dicen que de sus
labios salieron frases tan poéticas como "Aplaudid, amigos míos, la
comedia ha terminado" o "oiré en el cielo", a propósito de su sordera.
En
realidad, sus últimas palabras registradas son menos épicas pero más
realistas: "Lástima, lástima, demasiado tarde", cuando se le dijo que su
editor le había regalado doce botellas de vino que, por supuesto, no
iba a disfrutar.
Postado há 3 weeks ago por Orlando Tambosi
O problema e a solução das patentes de informática
BLOG ORLANDO TAMBOSI
A criação do sistema operacional foi coletiva e não tinha interesses pecuniários. Foi, em grande medida, obra de estudantes. Bruna Frascolla para a Gazeta do Povo:
A criação do sistema operacional foi coletiva e não tinha interesses pecuniários. Foi, em grande medida, obra de estudantes. Bruna Frascolla para a Gazeta do Povo:
A
Constituição dos Estados Unidos tem uma excepcional preocupação com os
direitos de propriedade intelectual. Tão excepcional que, antes das
Emendas, a única ocasião em que aparecia uma referência explícita a
direitos individuais era esta: “O Congresso terá o poder […] de promover
o Progresso da Ciência e das Artes práticas, assegurando, por tempo
limitado, aos Autores e Inventores o Direito exclusivo sobre seus
respectivos Escritos e Descobertas.” A ideia dos redatores da
Constituição, explica Robert Nisbet,
era que, “no sentido de gerar ou promover a prosperidade e o bem-estar
dos norte-americanos, não havia nada mais importante do que assegurar a
criatividade da mente humana.”
Os
EUA são mais o país das patentes do que o país dos direitos
inalienáveis. Os direitos inalienáveis não raro servem para empurrar
coisas com patentes. Um exemplo disso é a indústria farmacêutica, que
primeiro usa dinheiro público para se desenvolver, depois cria patentes
privadas e obriga o Estado (nos EUA e onde mais der) a pagar pelos
medicamentos patenteados. O caso das patentes de remédios mostra que a
história é muito mais complexa do que gostariam de dizer os liberais do
Twitter; afinal, o criador de uma patente tem o interesse em eliminar a
concorrência de medicamentos sem patente, ou com patentes mais baratas. A
situação mais fácil de isso ocorrer é com o uso off label de
medicamentos antigos que perderam a patente – como a ivermectina para
covid, por exemplo. Quanto aos conflitos entre os interesses dos
laboratórios e da saúde pública, eu recomendo os artigos de Paula
Schmitt, que costuma desse assunto em seus textos (como este sobre os opioides e este sobre o PrEP).
O
corpo político dos EUA não tem nem 300 anos, e sua hegemonia no mundo
ocidental ainda não completou 100 anos. Assim, podemos dizer que toda
essa ordem que os liberais exaltam é experimental e vem lutando para
resistir ao teste do tempo. Sem dúvida é uma ordem mais exitosa que o
comunismo; mas também está longe de alcançar a estabilidade milenar do
feudalismo e do Império Romano, que a precederam. A Espanha não teve uma
hegemonia milenar, mas sua ascendência global durou bem mais do que cem
anos.
Mas
vamos ao assunto prometido, que é o da informática. Junto com a
indústria farmacêutica, a informática se habilita a constituir um
império global de patentes norte-americanas. O ungido número 1 para essa
missão foi Bill Gates. A despeito de toda a retórica do self made man
que o American way tanto prega, William Henry Gates III não é um mero
aluno que largou a faculdade e aparentava estar fadado a se sair mal na
vida. Ele tem uma senhora árvore genealógica ligada a bancos dos Estados
Unidos, e, como lembra Flávio Gordon,
é filho de um ex-diretor da Planned Parenthood – que é uma paraestatal
do governo dos EUA. Aliás, não é de estranhar que uma pessoa tão
importante na oligarquia daquele país termine por reunir os dois pilares
das patentes: a informática (com o Windows) e a indústria farmacêutica
(com “filantropia” de “controle de natalidade” e “vacinação”).
Na
virada dos anos 80 para 90, parecia que a Microsoft, de Bill Gates,
seria a única opção para computadores domésticos, detentora de um
monopólio de sistemas operacionais. Todos os computadores de escritórios
e casas, ao menos no mundo ocidental, tinham tudo para ser um monopólio
da empresa de Bill Gates. Como isso fere a combalida lei antitruste, a empresa foi processada pelos Estados Unidos na virada do século, mas deu em nada.
Houve,
porém, uma reviravolta que impediu esse monopólio de se tornar
realidade: ninguém previu que um punhado de estudantes do MIT quisesse
criar tecnologia sem patente. A figura de liderança nesse processo foi
Richard Stallman. Em 1983 ele começou o projeto de fazer um sistema
operacional com código aberto e livre, o GNU. De onde ele tirou esse
nome? Stallman queria fazer um sistema operacional parecido com um
chamado Unix, que tem patente, usando engenharia reversa. Ele queria
fazer, portanto, um sistema Não Unix. Acrescentando a letra G à frente,
tem-se GNU, que significa “GNU Não é Unix” e é um acrônimo recursivo. O
símbolo do projeto é o gnu que ilustra este texto.
A
criação do sistema operacional foi coletiva e não tinha interesses
pecuniários. Foi, em grande medida, obra de estudantes. Para estudar, é
preciso ter acesso ao código; e, uma vez que você tenha criado um código
e queira melhorá-lo, é preciso que as pessoas saibam que aquele é o seu
código e que é com você que elas devem falar sobre ele. Ora, no sistema
de patentes ao estilo Gates, o código é segredo comercial e não dá para
estudá-lo, exceto como exercício de engenharia reversa. Stallman gosta
de usar a culinária como metáfora: códigos são como receitas,
programadores são como cozinheiros, e ambas as classes gostam de trocar
receitas para se aprimorar. Assim, a sociedade como um todo se beneficia
do aprimoramento do conhecimento. E por isso é preciso que os códigos
não sejam segredos comerciais guardados a sete chaves.
Por
isso, em 1985, Richard Stallman publica o Manifesto GNU que lança as
bases para criar a Licença Pública Geral GNU, conhecida pela sigla em
ingês “GNU GPL”. A primeira versão da licença foi lançada em 1989, e pode ser lida aqui.
A licença GNU tem uma patente porque a lei obriga, mas já na primeira
linha se lê: “Todos podem copiar e distribuir cópias verbatim deste
documento, mas não podem alterá-lo.” A dona da patente dessa licença é a
Fundação do Software Livre (FSF, na sigla em inglês), criada por
Stallman. E a licença patenteada pela FSF deveria ser usada
gratuitamente por quem quisesse.
No
começo, era expressamente voltada para programadores, como se pode ver
pelo começo da cláusula 1: “Você pode copiar e distribuir verbatim
cópias do código fonte do programa tal como o recebera, desde que…”.
Graças
a essa possibilidade de ser reconhecido pelo trabalho sem precisar
pensar em dinheiro, um jovem cidadão finlandês da minoria étnica sueca,
chamado Linus Torvalds, registrou sob a Licença GNU (versão 2) o Linux,
um núcleo de sistema operacional tipo Unix – era tipo Unix, mas, tal
como o GNU, não é Unix. Isto aconteceu em 1991, quando Torvalds tinha 22
anos. Stallman tinha 38 anos à época, e o núcleo era justamente o que
ele e sua equipe não conseguiam desenvolver. Em 1991, portanto, surgiu a
primeira alternativa ao Windows, o GNU/Linux, popular e erroneamente
conhecido como Linux.
As
pessoas cometem esse erro porque o GNU/Linux, diferentemente do Windows
ou do iOS (da Apple), não designa um sistema operacional específico,
mas sim uma espécie de árvore genealógica. Se cada programador (ou
equipe de programadores) é livre para aprimorar o trabalho alheio, o
natural é que os sistemas operacionais vão se sucedendo uns aos outros.
Os espécimes dessa árvore genealógica se chamam “distribuição”, ou
“distro”. Eu, por exemplo, uso o Debian. Os novatos costumam usar o
Mint, que é “filho” do Ubuntu, que é “filho” do Debian. Isso não quer
dizer que o Debian seja um sistema parado no tempo: eu uso o Debian 12;
tal como o Windows, as distribuições GNU/Linux vão tendo novas versões. É
outro tipo de evolução: os sistemas mais velhos podem se renovar
enquanto dão origem a sistemas mais novos, que, a seu turno, também vão
se renovando. Existe demanda por sistemas diferentes porque existem
usuários de computador com demandas diferentes. Eu, por exemplo, gosto
de sistemas mais enxutos e não me incomodo de gastar um tempo aprendendo
coisas novas, como usar linha de comando. O “neto” do Debian, porém, é
fácil de usar (não exige linha de comando) e parece Windows.
No
mesmo ano em que o GNU/Linux estava pronto para uso educacional, o
Brasil assinava a lei de informática. Muita coisa poderia ter acontecido
se tivéssemos acesso a computadores e se tivéssemos alguma iniciativa
análoga à Embrapa na área. O máximo que tivemos foi a distribuição
Kurumin, um “filho” brasileiro já falecido do Debian. Foi coisa de
estudante universitário e de entusiastas de computação. Não é da minha
época e eu só sei da história por meio de material sobre ela. É exíguo. Aqui vocês podem ver o criador do Kurumin, Carlos Eduardo Morimoto da Silva, falando do projeto ainda em funcionamento.
A
GNU GPL foi profícua também fora do mundo da programação. A Wikipédia e
seus projetos associados, como Wikimídia, permitem o compartilhamento e
a edição gratuitas de imagens, textos e informações, criaram uma
licença chamada “Creative Commons” que é baseada no projeto GNU.
Ao
que parece, portanto, os Pais Fundadores estavam errados ao supor que o
controle da propriedade intelectual estava fundamentalmente atrelada ao
conhecimento. Se os hackers liderados por Stallman não hackeassem o
sistema de patentes introduzindo o GNU GPL, o desenvolvimento do
conhecimento estaria atrasado. E cabe a nós, no Brasil, usar essa
liberdade de programar para alcançar a nossa soberania em informática.
Postado há 3 weeks ago por Orlando Tambosi
Sopa de ganso
BLOG ORLANDO TAMBOSI
O único objetivo da esquerda é impedir que a direita governe. Fernando Savater para The Objective:
O único objetivo da esquerda é impedir que a direita governe. Fernando Savater para The Objective:
En recuerdo de Amando de Miguel, que se preocupaba de estas cosas.
George
Borrow, don Jorgito el Inglés, fue uno de los enamorados de España más
pintorescos del siglo XIX (él creía que los pintorescos eran los
españoles, como suele pasar). Recorrió nuestro país repartiendo Biblias y
haciendo proselitismo protestante, lo que le permitió escribir La
Biblia en España, un retrato divertido, a veces perspicaz y otras
disparatado de aquellos compatriotas. Entre las mil anécdotas que
cuenta, hay una que prefiero y que revela la pertinacia de alguno de
nuestros rasgos de carácter. En su peregrinar misionero, Borrow se
acercó a un campesino que no sabía mucho de letras y que por tanto
prestó poco interés al ejemplar de la Biblia. El inglés comenzó su
sermón proselitista pero el labriego cortó su elocuencia: «Mire usted,
don Inglés, yo no creo en la religión católica,
que es la verdadera, de modo que mucho menos voy a creer en esa suya,
que es falsa». Así se acababa en el siglo XIX con las fake news.
A
veces me siento como don Jorgito cuando intento hablar de política con
mis conciudadanos. Aunque estén decepcionados de los políticos de
izquierdas y sus turbios cambalaches, nunca aceptarán ninguna idea que
venga de la derecha por eficaz que resulte. La izquierda es la verdad,
todo el mundo lo sabe, y un español si es ateo será ateo católico y de
izquierdas: la derecha representa irremediablemente el error y el mal,
como el protestantismo, y no digamos la extrema derecha (de Isabel Díaz Ayuso
prefiero no hablar). Los españoles, como descubrió Borrow, son tan
feligreses cuando creen como cuando no creen. Sólo conocen una razón
para la apostasía: castigar a sus correligionarios. Si se hacen
protestantes será para fastidiar a los católicos, indignos de su fe
auténtica; y lo mismo cuando voten a la derecha, para que aprenda la
izquierda que no basta tener razón. De momento ya hay bastantes
españoles de izquierdas (como todos) con ganas de dar un escarmiento a
los izquierdistas reinantes, pero por desgracia aún no los suficientes.
Aclaremos una cosa: las personas de izquierdas en España no viven de
manera fundamentalmente distinta que los de derechas. Buscan su provecho
y el de su familia, tienen claros sus derechos y dudan de sus
obligaciones, rehúyen el bulto si enfrentarse a las injusticias
gubernamentales comporta riesgos, quieren lo mejor para todos pero sin
sacrificios personales… Hay entre ellos personas solidarias y abnegadas
(vivimos en un país cristiano, por suerte) pero no en mayor número que
entre la gente de derechas. La diferencia fundamental es que, llegado el
momento, unos votan a los candidatos que se presentan como de
izquierdas y están seguros de que ese gesto borra los pecados políticos
de su alma. El mayor mérito de la izquierda resulta ser que impide
gobernar a la derecha, lo cual es un gran logro: porque aunque los
gobiernos de izquierdas cometan los mismos errores y abusos (¡o más!)
que los otros, lo hacen de manera involuntaria, forzados por las
circunstancias o engañados por indeseables en sus filas; en cambio, los
gobernantes de derechas cometen sus atropellos con deliberación y
deleite y si parece que aciertan en algo es porque aún no han revelado
sus verdaderas intenciones. La buena voluntad siempre disculpa las
estupideces y mangoneos de la izquierda, mientras que el perverso afán
de lucro contamina todo lo que la derecha promueve, aunque sea repartir a
los niños regalos de Navidad.
En España (que incluye y con privilegios al País Vasco y Cataluña)
el carlismo representa desde el siglo XIX esa amenaza reaccionaria de
la extrema derecha que tanto preocupa hoy a los espantados por Vox. No
hay ideología política más contraria a los valores progresistas que el
separatismo que subvierte la igualdad entre los ciudadanos y apoya el
descarado egoísmo colectivo de las regiones, además de convertir a los
vecinos en extranjeros en su propio país. Pues, resulta que la izquierda
ha descubierto en el separatismo unos aliados inapreciables. Y, desde
luego, Pedro Sánchez confía en ellos para perpetuarse en el poder que
las urnas le regatean, pagando el precio en amnistía y concesiones
fragmentadoras que haga falta, por indecente que sea. Los medios
informativos como El País o la Ser, que pudieron llamarse un día
herederos de la Ilustración pero hoy son sencillamente gubernamentales,
bautizan como coaliciones «progresistas» a la impía amalgama entre
socialistas del oportunismo, separatistas fanáticos o aprovechados,
deudores del dinero extranjero que viene de los financiadores más
repugnantes, etc. Y gran parte de los votantes, tan dóciles a la
feligresía como el campesino analfabeto que rechazó a Borrow, están
convencidos de que han salvado a España de los tentáculos del
Capitalismo Internacional. La verdad es que resulta difícil ilusionarse
por las biblias que hoy venden en España…
Postado há 3 weeks ago por Orlando Tambosi
O profeta dos palavrões
BLOG ORLANDO TAMBOSI
Dizer a verdade não é dizer qualquer coisa que venha à cabeça. Vilma Gryzinski para a edição impressa de Veja:
Dizer a verdade não é dizer qualquer coisa que venha à cabeça. Vilma Gryzinski para a edição impressa de Veja:
O
Partido Socialista de Salvador Allende “era mais de esquerda do que o
Partido Comunista” (palavra de um general da KGB). O presidente
intrigava os cubanos por seus hábitos caros e provocou deliberadamente
extremos de radicalização do Chile. Quando tudo deu errado, suicidou-se.
Podem apostar que ninguém vai dizer isso nos cinquenta anos do golpe
militar no Chile. Ao contrário, todos estarão dedicados a acender velas
no altar do martírio de Allende, sem aproveitar para entender como os
dois blocos da Guerra Fria disputaram cada centímetro do território
chileno, tirando todos os truques sujos da caixa de ferramentas. Os
Estados Unidos ganharam, por pouco — e em questão de anos a atuação do
governo Nixon foi vasculhada no Senado americano, propiciando até leis
que proibiam esse tipo de intervenção. Nada nem remotamente parecido
aconteceu em Cuba ou na União Soviética, que perderam o Chile, mas
ganharam a narrativa, ajudados por um regime simplesmente bárbaro e uma
ditadura personalista, ao contrário dos comparativamente legalistas
militares brasileiros que jamais escorregaram para uma figura como a de
Augusto Pinochet.
O
golpe no Chile deixa assim de servir como um dos exemplos mais trágicos
do que acontece quando a radicalização se infiltra e uma parte do país
passa a ver a outra como o inimigo a ser eliminado — sendo plenamente
correspondida. A redemocratização latino-americana abrandou os discursos
e fez ressurgir a procura por consensos, o caminho nada sexy dos
praticantes da conciliação política. O discurso brutalista em que cada
palavra é um punhal à procura da garganta do inimigo ressurgiu nos
últimos anos e envenena até chefes de Estado que deveriam pelo menos
fingir respeito pelos cargos em que se encontram. A ascensão de Javier
Milei na Argentina é exemplo de como os profetas dos palavrões
destruidores confundem “dizer a verdade” com dizer barbaridades. Numa
entrevista a uma rádio colombiana, Milei caprichou: “Que é no fundo um
socialista? É um lixo, um excremento humano que, por não suportar o
brilho de outro ser humano, está disposto a que todos fiquem na
miséria”. O presidente Gustavo Petro, que se considera um gênio do
ex-Twitter, qualificou: “Isto é o que dizia Hitler”. É um exemplo de
como até a sardônica lei de Godwin, aquela segundo a qual tende a 100% a
probabilidade de que em discussões na internet surja uma comparação
envolvendo Hitler ou os nazistas, deixou de ter efeito dissuasivo. Os
partidários de Milei (mileinaristas?) e de Petro acharam o máximo.
“A
obstinação e a convicção exagerada são a prova mais evidente da
estupidez”, dizia Montaigne. “Existe algo mais convicto, resoluto,
desdenhoso, contemplativo, grave e sério do que um asno?”. O fino
Montaigne largou tudo e passou anos trancado na torre do castelo da
família, longe do horror das guerras religiosas que assolaram a França.
Parece incrível que esse conflito grassou nos países mais adiantados do
mundo à época, da mesma forma que soa absurdo o universo tétrico da
tortura e das execuções secretas das ditaduras latino-americanas de
apenas cinquenta anos atrás. Não podemos esquecer como foi custoso sair
disso e como não foram os palavrosos, mas os negociadores que
conseguiram navegar com humildade para o outro lado.
Publicado em VEJA de 8 de setembro de 2023, edição nº 2858
Postado há 3 weeks ago por Orlando Tambosi
Toffoli lança suspeitas sobre o STF
BLOG ORLANDO TAMBOSI
Com o revisionismo histórico da prisão de Lula, Dias Toffoli lança as piores suspeitas sobre o Supremo, como se fosse órgão instável, parcial e submisso aos ventos políticos do momento. Editorial do Estadão:
Com o revisionismo histórico da prisão de Lula, Dias Toffoli lança as piores suspeitas sobre o Supremo, como se fosse órgão instável, parcial e submisso aos ventos políticos do momento. Editorial do Estadão:
Diz-se,
com inteira razão, que todos os cidadãos têm de respeitar o Judiciário e
cumprir suas decisões. O funcionamento livre da Justiça é aspecto
essencial do Estado Democrático de Direito. Mas infelizmente, algumas
vezes, parece que o Judiciário se esforça para não ser respeitado, para
não ser levado a sério, para ser visto como um órgão político, submisso
às circunstâncias do poder do momento.
Na
quarta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli
aproveitou o ensejo de um despacho – no qual anulou todos os atos da
Justiça tomados a partir do acordo de leniência firmado pela Odebrecht –
para fazer um revisionismo histórico. Segundo ele, a prisão do
presidente Lula foi um dos “maiores erros judiciários da história do
País”; “uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes
públicos em seu objetivo de conquista do Estado”; “uma verdadeira
conspiração com o objetivo de colocar um inocente como tendo cometido
crimes jamais por ele praticados”; “o verdadeiro ovo da serpente dos
ataques à democracia e às instituições”.
De
fato, a Justiça, depois de um longo vai e vem, entendeu que o princípio
da presunção da inocência impede o início da execução da pena antes do
trânsito em julgado. De fato, a Justiça, depois de longos anos, entendeu
que a 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba não era competente para
julgar os casos envolvendo Lula, anulando as condenações correlatas.
Mas
nada disso obnubila a obviedade mais cristalina. De uma forma ou de
outra, com mais ou menos intensidade, o STF participou de todos esses
atos, tanto os que conduziram Lula à prisão como aqueles que o tiraram
de lá. E igualmente se pode dizer dos atos que retiraram a elegibilidade
de Lula e dos que a devolveram. Se, como disse Toffoli, os processos
contra Lula foram “uma verdadeira conspiração com o objetivo de colocar
um inocente como tendo cometido crimes jamais por ele praticados”, o STF
participou integralmente dessa conspiração.
Não
há nenhum problema em que a Justiça corrija seus erros. Na verdade, é
seu dever primário. Mas que o faça em tempo razoável e, principalmente,
de forma honesta, sem politizar os assuntos. No entanto, quando Dias
Toffoli profere uma decisão como a de quarta-feira, produz-se uma grave
inversão. As revisões da Justiça, que deveriam servir para fortalecer a
confiança no Poder Judiciário – explicitando que não há compromisso com o
erro –, perdem seu caráter pedagógico, gerando a impressão contrária.
Para a população, parecem confirmar-se seus piores temores: uma Justiça
parcial e instável, preocupada em estar alinhada com os ventos da
política.
O
habeas corpus de Lula foi impetrado no Supremo em 2018. Se eram tão
graves e evidentes os elementos indicando a parcialidade do juiz, por
que houve tanta demora em seu julgamento? No caso da decisão pela
incompetência do foro, o Judiciário tardou sete anos. Toda essa história
é longa e tem muitos aspectos. Mas os fatos não podem ser negados. Por
causa dessa flagrante incompetência da Justiça – no sentido corriqueiro
do termo: a incapacidade de aplicar o Direito em tempo razoável e de
forma estável –, os casos contra Lula prescreveram, os indícios de
corrupção reunidos perderam sua serventia processual e o mérito dos
processos nunca foi julgado por um magistrado competente e imparcial,
como deveria ter ocorrido.
As
palavras de Dias Toffoli devem servir, por contraste, de alerta a todo o
Judiciário; em especial, ao STF. Respeitem o cidadão e sua memória. A
Justiça tem de ser funcional. Ninguém deseja – não é isso o que prevê o
Estado Democrático de Direito – um Judiciário voluntarista, instável,
histérico ou politizado.
Fala-se
que o STF, por ser o órgão de maior hierarquia do Judiciário, tem o
direito de errar por último. A afirmação é um tanto cínica, a
desprestigiar o próprio Supremo. Na verdade, nenhum órgão estatal tem o
direito de errar. De toda forma, tenha ou não esse direito, é mais que
hora de reconhecer que o STF tem abusado da possibilidade de errar.
Postado há 3 weeks ago por Orlando Tambosi
O caminho de Ithaca
BLOG ORLANDO TAMBOSI
Mudamos de vocabulário. Saem as reformas, entra o gasto público. Fernando Schüler para a revista Veja:
Mudamos de vocabulário. Saem as reformas, entra o gasto público. Fernando Schüler para a revista Veja:
“Ser
rico não é pecado”, escreveu João Camargo, do Grupo Esfera, em um
artigo, dias atrás, que causou certo frisson na internet. Talvez sem
querer, ele tocou em um tabu brasileiro. Todo mundo se lembra de Tom
Jobim dizendo que “no Brasil, sucesso é ofensa pessoal”. A frase é
ótima, mas talvez seja apenas uma meia verdade. O que somos é um país
ranzinza. Metade acha o Neymar um horror porque apoiou o Bolsonaro;
a outra metade acha o mesmo do Chico Buarque, pela razão inversa. Uma
coisa me parece inegável: temos um problema com o sucesso econômico. E
não há coisa que desperte maior onda de xingamentos, no mundo da virtude
fake, na internet, do que defender os mais ricos. Não há pecado nenhum
em ser um rico no Brasil. Você passa a semana na Faria Lima e o fim de
semana na Fazenda Boa Vista, e ninguém vai lhe incomodar. O que você não
pode é elogiar. Tentar passar essa ideia absurda de que o
“empreendedor”, que “inova”, “cria riqueza e empregos”, contribui para o
desenvolvimento do país. Isso aí passa de qualquer limite. Foi um pouco
do que o João experimentou com seu artigo. E confesso achar ótimo que
alguém se arrisque a dizer alguma coisa fora do script.
O
ponto-chave desse debate gira em torno da ideia algo difusa de que “os
ricos devem pagar a conta”. Sob certo aspecto, é uma ideia óbvia. O
sistema tributário deve ser progressivo, não parece haver dúvidas sobre
isso. O problema é que há algo que se perde nessa conversa e que também é
perfeitamente óbvio: que, em vez de focar na ideia obsessiva de
“aumentar impostos”, deveríamos discutir antes o custo e a eficiência do
Estado. Ainda agora, o governo envia para o Congresso um projeto de
Orçamento prevendo zerar o déficit, no ano que vem, com um pequeno
detalhe: projeta 168 bilhões de reais em novas receitas sem um mísero
aceno de corte de despesas, reforma ou ajuste estrutural na máquina
pública.
O
que está em jogo, no fundo, é um debate sobre como conduzir o país.
Debate que empurramos para debaixo do tapete na disputa eleitoral. Para
quem gosta de estudar essas coisas, sugiro a leitura de um livro dos
economistas Alberto Alesina, Carlos Favero e Francesco Giavazzi, chamado
Austeridade. Eles analisaram processos de ajuste fiscal feitos ao longo
de mais de quatro décadas, no âmbito da OCDE, e chegaram a uma
conclusão à qual deveríamos prestar atenção: políticas de ajuste feitas à
base de aumento de impostos “têm sido amplamente recessivas, do curto
para o médio prazo (três a quatro anos à frente)”, além de aumentar o
endividamento; ajustes pautados pelo corte estrutural da despesa
pública, em condições adequadas, mostraram exatamente o efeito
contrário. Aumentar impostos tende a ser um remédio efêmero. Induz o
país a empurrar com a barriga as reformas que precisa fazer, não mexe
com o crescimento da máquina estatal, sua despesa orgânica, direitos
adquiridos, privilégios e ineficiências. E gera um problema de
confiança. Não atacando o problema estrutural, contrata-se a necessidade
de um novo ajuste, a um custo eventualmente ainda maior. Em boa medida,
foi o que o Brasil viveu na grande crise de 2015 e 2016, com a qual,
diga-se de passagem, aprendemos muito pouco.
O
interessante, no caso brasileiro, é que não teríamos o menor problema
em cortar despesas perfeitamente inúteis da máquina estatal. Leio que o
Congresso quer 5,5 bilhões de reais para torrar na campanha do ano que
vem, no fundão eleitoral. É só um exemplo. Que tal fazer o que o
Congresso mesmo decidiu, na PEC Emergencial, que é reduzir os incentivos
fiscais a 2% do PIB, menos da metade do que existe hoje? Ou quem sabe
cortar todos os salários do funcionalismo acima do teto constitucional? O
CLP fala em 25 300 pessoas ganhando acima de 41 600 reais, em um país
em que 90% das pessoas ganham menos de 3 500 reais. Quem sabe também
revisamos o oceano de emendas parlamentares, orçadas em 37 bilhões de
reais, para 2024, que faz o Brasil ser um campeão global nesse tipo de
dispersão orçamentária. Só para provocar um pouco, por que não ensaiamos
uma “democracia sueca”? Algo do tipo: em vez de um chefe de poder ir
102 vezes de jatinho para casa, no fim de semana, vai em voo de
carreira. Ou, quem sabe, reduzir à metade, de 25 para doze ou treze, o
número de assessores por deputado? Um dia visitei o Parlamento sueco e
perguntei quantos assessores havia lá para cada parlamentar. “Perto de
um”, me respondeu uma deputada. Lembro que saí pelas ruas frias de
Estocolmo pensando que realmente temos um problema.
O
ponto é que o Brasil tem uma enorme oportunidade. Dado nosso incrível
volume de desperdício de dinheiro público, podemos produzir um ajuste
estrutural no gasto público sem cortar rigorosamente nada que seja
efetivamente importante para o país. Na reforma da Previdência
instituímos uma idade mínima para as aposentadorias. Alguém acha que era
importante que as pessoas se aposentassem antes dos 50 anos? De novo, é
só um exemplo. Não há bala de prata. Nosso destino é enfrentar o que o
economista Alfred Kahn chamava de “tirania das pequenas decisões”. Cada
ineficiência removida não vai resolver, isoladamente, nosso problema
estrutural. Seu custo político será alto e seu benefício, relativamente
pequeno. No conjunto, porém, as reformas apontam um caminho. Alfred Kahn
gostava de citar o exemplo da ferrovia que ligava a cidade de Ithaca a
Nova York. Nos dias difíceis do inverno, a ferrovia era a única opção
para sair ou chegar à cidade. Ao longo do ano, porém, a maioria optava
pelo transporte aéreo ou rodoviário. O resultado é que a ferrovia morreu
à míngua. Ela quebrou não porque as pessoas quisessem que isso
acontecesse, mas porque o custo de cada pequena decisão individual para
que ela permanecesse funcionando era muito alto. É a mesmíssima coisa
com as decisões que precisamos tomar. Aprovar aqueles itens da reforma
administrativa? Terminar com as “licenças-prêmio”, com as férias de
sessenta dias? Os salários fora do teto? As “progressões por tempo de
serviço”? Avaliar desempenho dos servidores? Nada disso resolve o
problema, e a cada uma dessas decisões haverá uma enorme confusão. O
ponto é o que é que precisa ser feito. É nosso caminho para Ithaca. O
caminho seguro, feito à base de infinitas pequenas decisões, e mesmo por
isso o mais difícil de trilhar.
O
Brasil tem sido um país incerto. Nos anos 90, fizemos o Plano Real, as
privatizações, as agências reguladoras, as OSs, a lei de
responsabilidade fiscal. Depois de 2016 ensaiamos um novo ciclo
reformista com o teto de gastos, a reforma trabalhista, a da
Previdência, a independência do Banco Central,
o marco do saneamento. Agora mudamos de vocabulário. Saem de cena as
reformas, entra o gasto público. E com ele a demanda por mais impostos.
Talvez seja nosso DNA. País sem convicção modernizadora, sem apetite
para perseverar em escolhas difíceis que, lá no fundo, todos sabem que
precisamos fazer.
Fernando Schüler é cientista político e professor do Insper
Publicado em VEJA de 8 de setembro de 2023, edição nº 2858
Postado há 3 weeks ago por Orlando Tambosi










