Em texto para o Observador, José Carlos Fernandes resenha O Livro dos Humanos, de Adam Rutherford, traduzido em Portugal. Divirtam-se:
As ideias de que o Estado é moralmente responsável pela segurança e
bem-estar dos cães e gatos vadios ou de que deverá providenciar um
“sistema nacional de saúde” para animais de estimação são hoje aceites
por uma boa parte da população, em resultado da difusão e interiorização
das “ideologias” animalistas a que se tem assistido nas últimas décadas
e que, em Portugal, tem uma das suas mais visíveis expressões na
meteórica ascensão no panorama político do PAN – atualmente a sexta
força no Parlamento, com apenas menos um deputado do que o declinante
CDS-PP – e na adoção de várias das “bandeiras” do animalismo por quase
todas as forças políticas.
Esta dissolução de hierarquias e distinções entre o homem e os
restantes animais tem, sobretudo, raízes emocionais – em particular, o
redirecionamento para animais de uma afetividade pueril que tem sérias
dificuldades em lidar com a complexidade das relações humanas – mas
também é alimentada pela revelação, através da investigação científica,
de que muitas características que se julgavam serem exclusivamente
humanas são, afinal, partilhadas com outras espécies animais. Foi para
lançar luz sobre o debate da excecionalidade humana e para posicionar
objetivamente o homem no contexto da “Criação” que o geneticista
britânico Adam Rutherford escreveu em 2018 “O livro dos humanos: Uma
breve história, fascinante e divertida, de como chegámos aqui”, agora
editado pela Desassossego, com tradução de José Remelhe.
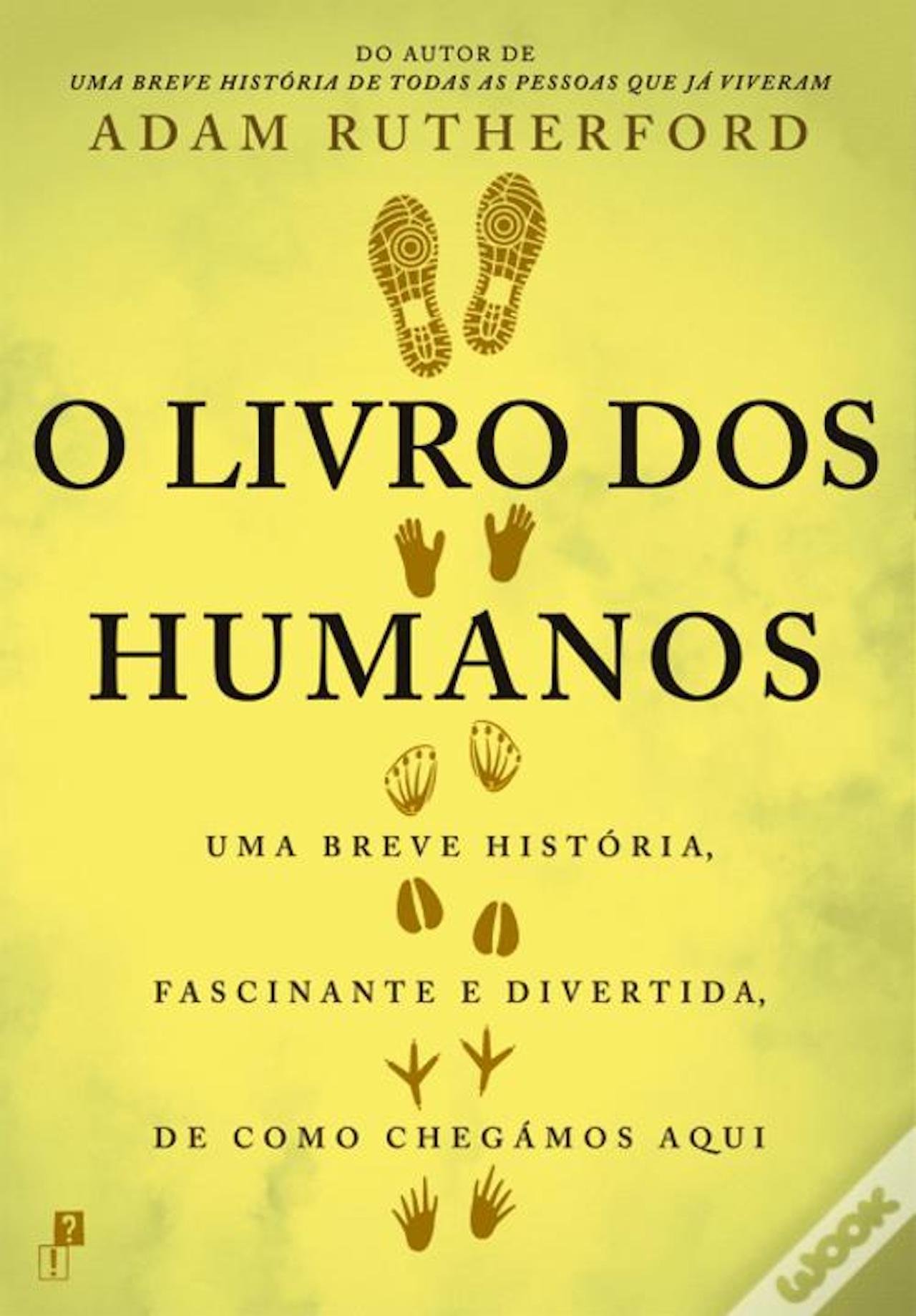
É o segundo livro de Rutherford em Portugal, pois a Desassossego já
publicara, no final de 2019, “Uma breve história de todas as pessoas que
já viveram: O que os nossos genes têm para contar” (A brief history of
everyone who ever lived: The stories of our genes, de 2016), e,
atendendo ao assunto do mais recente livro de Rutherford, publicado no
Reino Unido em fevereiro passado – How to argue with a racist: History,
race and reality – e aos acesos debates na sociedade portuguesa em torno
do racismo, é previsível que também este título chegue rapidamente às
nossas livrarias.
Após muitos anos em que a divulgação científica em Portugal esteve
restrita aos campos da física e da matemática, é de louvar a edição de
obras na área das ciências da vida, e, em particular, na biologia e
evolução dos humanos (para mencionar apenas títulos recentes abordados
no Observador, vejam-se Singularidades de um símio sem pêlo: Como evoluiu o Homo sapiens,
sobre “Encontros imediatos com a humanidade: Uma nova visão sobre a
evolução humana”, de Sang-Hee Lee & Shin-Young Yoon, e A cadeira e outros grandes inimigos da humanidade, sobre “Alteração primata: Como o mundo que criámos nos está a mudar”, de Vybarr Cregan-Reid).
Os três golpes: Copérnico, Darwin e Freud
A promoção dos animais a um estatuto quase humano (plasmada na frase
“só lhe falta falar!”, tantas vezes proferida com enlevo pelos donos de
cães) contraria uma mundividência milenar em que os animais (e as
plantas) tinham sido criados por Deus para que o homem deles fizesse uso
como bem entendesse. O livro de Génesis deixa bem clara a diferença de
estatuto entre o homem e o resto da Criação: “Deus, pois, fez os animais
selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as
suas espécies, e todos os répteis da Terra segundo as suas espécies. E
viu Deus que isso era bom. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, sobre
as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a Terra, e
sobre todo o réptil que se arrasta sobre a T.
 |
| "A Criação dos aAimais", por Vasco Fernandes. |
A posição privilegiada do homem na perspetiva da cultura
judaico-cristã foi abalada por três “golpes”: o primeiro golpe veio de
Copérnico, que retirou o homem do centro de Universo, o segundo veio de
Darwin, que o retirou do centro da Criação, o terceiro veio de Freud,
que veio retirar-lhe até a autoridade sobre si mesmo. Esta perspetiva da
“despromoção” do homem, de criatura semi-divina a um pobre coitado que
nem sequer é senhor dos seus atos e palavras, através de três
descobertas cruciais da ciência foi expressa, com apreciável imodéstia
pelo próprio agente do terceiro “golpe”.
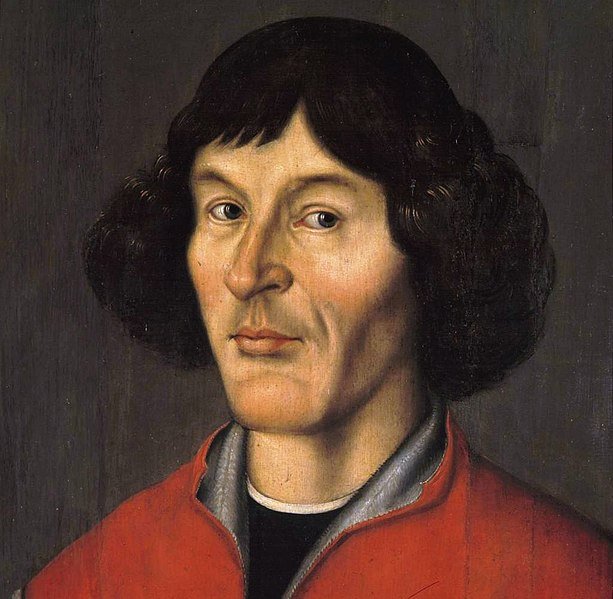
Numa das 28 palestras que integram “Introdução à psicanálise”
(publicado em 1916-17), Sigmund Freud escreve: “Ao longo dos tempos a
humanidade recebeu, pelas mãos da ciência, duas grandes humilhações no
seu ingénuo amor-próprio. A primeira resultou de ter compreendido que a
nossa Terra não era o centro do universo, mas antes uma ínfima partícula
numa estrutura de desmedida magnitude; esta perceção está nas nossas
mentes associada ao nome de Copérnico […]. A segunda ocorreu quando a
investigação biológica privou o homem do privilégio de ter sido criado à
parte, relegando-o para o lugar de um ramo do mundo animal, o que
implica que possui em si uma natureza animal impossível de erradicar;
esta reavaliação foi levada a cabo no nosso tempo pela instigação de
Charles Darwin, Wallace seus antecessores, e enfrentou a mais feroz
oposição dos seus contemporâneos. Mas a aspiração do homem à grandeza
sofre agora o terceiro e mais amargo golpe da investigação psicológica
dos nossos dias, que tem reunido provas de que o ego de cada um de nós
não é sequer o senhor da sua própria casa”.
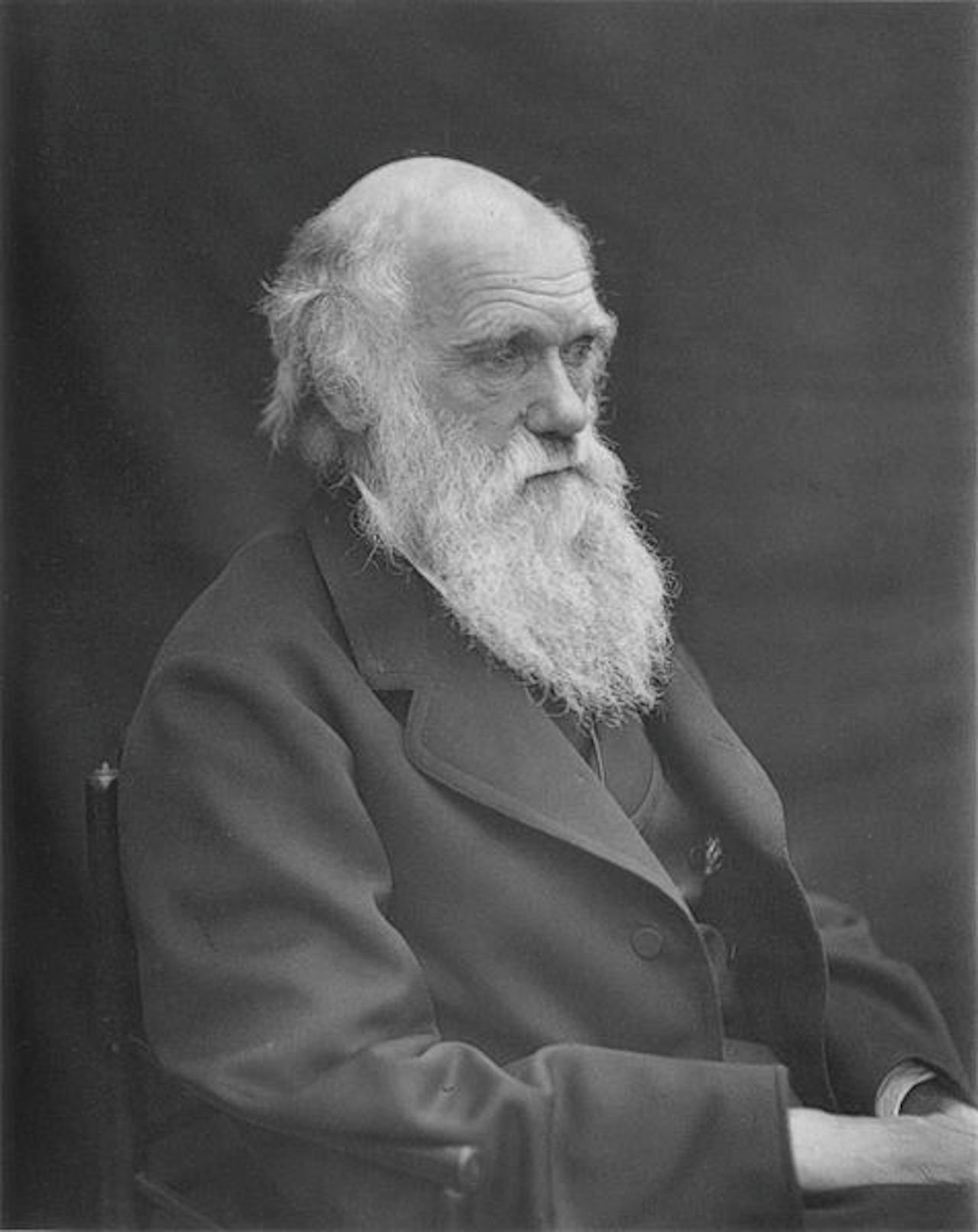 |
| Charles Darwin, 1878. |
O Dr. Freud não foi – exceto pela adição de si próprio como agente do
“terceiro e mais amargo golpe” – o primeiro a expressar esta visão,
pois o médico e fisiologista alemão Emil Heinrich du Bois-Reymond já
dissera algo muito similar, em 1882, num discurso de homenagem,
proferido em Berlim, ao recém-falecido Darwin: “Darwin é, aos meus
olhos, o Copérnico do mundo orgânico. No século XVI Copérnico pôs termo à
teoria antropocêntrica ao descartar as esferas ptolemaicas e ao relegar
a Terra para o estatuto de planeta insignificante […]. Ainda assim, o
homem continuou a estar à parte dos outros seres vivos – não apenas no
topo, mas claramente separado e não comparável com os restantes. Um
século depois, Descartes ainda defenderia que só o homem tinha alma e
que os animais eram meros autómatos”. Foi com “A origem das espécies”
que, “pela primeira vez, o homem foi colocado no lugar apropriado, à
cabeça dos seus irmãos”.
A “despromoção” dos humanos não terminou com a revelação pelo Dr.
Freud de que muito do que julgamos serem os nossos comportamentos ser
determinado pelo mundo obscuro do inconsciente e não pela pura e
luminosa racionalidade. O professor de anatomista e fisiologista
Johannes Peter Müller (1801.1858), mestre de Bois-Reymond na
Universidade de Berlim, defendera no seu Handbuch der Physiologie des
Menschen (Manual de fisiologia humana), publicado em 1833-40, que,
“ainda que pareça existir algo nos fenómenos dos seres vivos que não é
redutível a leis mecânicas, físicas ou químicas, muito pode ser
explicado e podemos, sem receio, levar essas explicações tão longe
quanto possível, desde que nos mantenhamos solidamente apoiados na
observação e na experimentação”. Nos quase dois séculos decorridos desde
que estas palavras foram escritas, então avolumaram-se indícios de que
muitos dos nossos estados de espírito e inclinações podem ser explicados
pela biologia – os progressos feitos nos últimos anos neste domínio têm
sido tais que alguns autores têm ido “tão longe quanto possível” (ou
até mais longe do que seria sensato) e se empenhem em difundir a ideia
de que o homem é uma mera máquina bioquímica, desprovida de
livre-arbítrio (ver Será a alma uma ideia obsoleta?,
a propósito de “Homo biologicus: Como a biologia explica a natureza
humana”), ou seja, colocando o homem ao nível dos autómatos de carne e
osso de Descartes.
O homem é o único animal que…
Após este sintético enquadramento da evolução da perspetiva sobre o
lugar do homem na “ordem natural das coisas”, passemos à análise de “O
livro dos humanos”, cuja primeira parte é consagrada a mostrar que
algumas das convicções dominantes (no senso comum) sobre o que separa os
humanos dos outros animais têm fraca sustentação.
Uma dessas convicções é a de que o homem é o único animal que usa
ferramentas. Não é verdade: as lontras-marinhas usam pedras para quebrar
as conchas de moluscos, os elefantes usam ramos para enxotar moscas,
vários primatas usam pedras para partir nozes, os orangotangos usam
folhas para manipular frutos com espinhos, os chimpanzés introduzem paus
em termiteiras para capturar térmitas e em colmeias para retirar mel.
Estas capacidades não se limitam a mamíferos terrestres dotados de
dedos preênseis: num estudo realizado em Shark Bay, na costa
australiana, os golfinhos-nariz-de-garrafa (Tursiops sp., designados em
inglês por “bottlenose dolphins” e que nesta tradução surgem como
“golfinhos botinhosos”) foram vistos a usar esponjas marinhas no focinho
que lhes dá nome, quando prospetam o fundo oceânico, coberto de rochas e
conchas cortantes, em busca de alimento. O comportamento tem sido
registado sobretudo em fêmeas e supõe-se que seja transmitido de mães
para filhas, embora nunca tenha sido observada essa transmissão. O uso
de esponjas como ferramenta por esta população de golfinhos não foi
observado noutro local para lá de Shark Bay, nem noutra espécie de
cetáceos e é um caso invulgar de “transmissão cultural” entre animais
não-humanos.
A grande maioria dos animais limita-se a usar “ferramentas” já
existentes, embora exista um registo, isolado (realizado pela célebre
primatóloga Jane Goodall), de um chimpanzé que tomou um ramo e lhe
removeu as folhas antes de o introduzir na termiteira. Uma coisa é usar
ferramentas, mas ser capaz de fabricá-las implica um patamar superior de
discernimento. Porém, ao contrário do que seria de esperar, não são os
nossos primos quem revela maior apetência para o fabrico de ferramentas
mas os corvos-da-Nova-Caledónia (Corvus moneduloides, que nesta tradução
são designados por “gralhas”), que fabricam uma espécie de anzóis que
usam para desalojar e capturar vermes em troncos apodrecidos. Este
comportamento não parece ser cultural (isto é, aprendido) mas
instintivo, pois “um bando de gralhas criadas em cativeiro que nunca
vira [o fabrico de anzóis] noutro grupo, foi observado a fabricar e a
utilizar estes paus” (Rutherford).
Entre os usos de ferramentas por animais abordados por Rutherford o
caso mais surpreendente será talvez o das aves de rapina que ateiam
fogos para espantar para campo aberto os pequenos animais de que se
alimentam. As aves tomam, com o bico, pequenos ramos em chamas e
deixam-nos cair noutros pontos e este comportamento tem sido
testemunhado na Austrália em milhafres-negros (Milvus migrans),
milhafres-assobiadores (Haliastur sphenurus) e falcões castanhos (Falco
berigora) mas nunca foi registado em fotografia ou filme. Na verdade, o
conhecimento sobre o assunto é extraordinariamente ténue e baseia-se
sobretudo nos relatos e lendas dos aborígenes.
 |
| Milhafre negro, uma das espécies que teriam práticas incendiárias na Austrália. |
Rutherford sugere que “é possível que os aborígenes australianos
tenham aprendido com as aves a desencadear [fogos], tendo mais tarde
adotado o método para a gestão de incêndios que lavraram ao longo da
história da Austrália”, uma hipótese que é um insulto à inteligência e
capacidade de iniciativa dos aborígenes. Em território português não há
notícia de tal comportamento, mas as aves de rapina pirómanas poderiam
tornar-se num conveniente bode expiatório para a combinação de
incompetência, incúria, insensatez, obstinação e leviandade humanas que
levam a que Portugal se converta, verão após verão, num braseiro. Seria
uma refrescante variação face à estafada teoria que atribui todos os
fogos florestais à ação dolosa de madeireiros.
Os casos de uso de ferramentas citados por Rutherford deverão ser
colocados em perspetiva: apenas 1% das espécies recorrem a ferramentas e
o uso destas é extraordinariamente incipiente e limitado quando
comparado com o dos nos.
 |
| "O Macaco-Dentista", por Emmanuel Noterman. |
A singularidade do sexo não-reprodutivo
É corrente que se creia que o comportamento sexual do ser humano não
tem par no Reino Animal. É verdade, o nosso comportamento sexual
desvia-se do padrão habitual dos mamíferos – “passamos muito tempo
dedicados à atividade sexual, mas temos fracos resultados em termos de
bebés […] O nosso interesse por sexo evoluiu muito para lá do instinto
animal básico” – mas, tal como acontece com o uso de ferramentas, não
estamos sós em algumas das nossas “bizarrias sexuais”.
Rutherford colige vários exemplos entre os outros animais que mostram
que o Homo sapiens está longe de ser o único a entregar-se com afinco à
masturbação, ao sexo com recurso a outras partes da anatomia para lá
dos genitais, ao sexo com parceiros do mesmo sexo e a outras formas de
relacionamento sexual sem fins reprodutivos. Muitos dos casos
mencionados por Rutherford estão bem documentados e são correntemente
mencionados na literatura de divulgação científica, para desconsolo de
quem pretende impor aos seus concidadãos padrões de comportamento sexual
“corretos”, alegando que as outras práticas são contra natura (ver Sexo: Pecando contra a Natureza e contra Deus).
A Natureza oferece, com efeito, uma vasta panóplia de “perversões” e
para encontrar uma espécie que seja tão ou mais obcecada com sexo e o
empregue assiduamente para fins não-reprodutivos nem sequer é preciso ir
longe: os nossos primos bonobos ou chimpanzés-pigmeus (Pan paniscus)
são descritos por Rutherford como “a espécie mais excitada de toda a
criação”, com as interações sexuais a terem lugar com grande frequência
(as fêmeas praticam o “esfreganço” de genitais contra genitais em média
de duas em duas horas e com diferentes parceiras) e “em todas as
combinações possíveis, independentemente do sexo, idade ou mesmo
maturidade sexual”. Apesar deste frenesim, “as fêmeas bonobo engravidam e
têm crias praticamente com a mesma frequência que os chimpanzés”, os
Pan troglodytes, cujo comportamento sexual é incomparavelmente mais
modesto, o que leva a crer que, tal como nós, os bonobos separaram o
sexo da reprodução.
 |
| "O Macaco-Antiquário", por Jean-Baptiste Chardin. |
Um dos domínios em que o Homo sapiens mais se destaca dos outros
animais é na elaboração, riqueza, flexibilidade e subtileza da sua
linguagem. Rutherford consagra ao tema quatro capítulos – “Língua ágil”,
“Simbolismo nas palavras”, “Simbolismo por detrás [sic] das palavras” e
“Se ao menos conseguisse ver o que eu consigo ver com os seus olhos” – e
descarta a abordagem comparativa empregue nos temas das ferramentas,
centrando-se no Homo sapiens.
A linguagem é indubitavelmente uma das mais distintivas e preciosas
capacidades da humanidade, mas “O livro dos humanos” está longe de se
contar entre as suas manifestações mais brilhantes: abunda em passagens
pouco inteligíveis, apartes despropositados, raciocínios pueris, piadas
falhadas e sintaxe arrevesada. O subtítulo da edição portuguesa promete
“uma breve história, fascinante e divertida”, mas embora o assunto seja
indiscutivelmente fascinante, ler esta obra não é nada divertido e a
brevidade, embora sendo real (205 páginas de texto, mais 20 de
bibliografia e índice remissivo), acaba por revelar-se contraproducente,
pois são tantos e tão complexos os assuntos que o autor pretende tratar
em tão breve espaço que acaba por ficar invariavelmente pela
superfície.
Quando se lê na contracapa do livro que The Observer proclamou que
“Rutherford é um escritor genial” só pode ficar-se perplexo e é difícil
crer que a argumentação e prosa titubeantes da edição portuguesa possam
ser imputadas exclusivamente a “perdas na tradução”. Considerem-se os
seguintes exemplos:
* “A Toscânia, no Norte de Itália, um sítio muito bonito” (pg. 34)
* Existem muitas medições que podem ser aplicadas ao cérebro, e o
nosso ocupa os lugares cimeiros, embora não o primeiro lugar” (pg.
37-38)
* Os nemátodos da espécie Caenorhabditis elegans podem ter um sistema
nervoso sumário, “constituído precisamente por 302 células”, mas “têm
cerca do mesmo número de genes que nós, mas são mais pesados, em maior
número e, em termos de longevidade evolutiva, ultrapassar-nos-ão em
centenas de milhares de anos” (pg. 38)
* “Os orangotangos gostam de peixe e aparentam gostar de peixe” (pg. 44)
* “O golfinho médio apenas tem barbatanas” (pg. 47) [fica portanto
aberta a possibilidade de haver golfinhos com braços e pernas]
* A dissecação de cérebros de 28 espécies de aves permitiu descobrir
“que os neurónios estão, apenas, em aglomerados mais densos. Os
corvídeos e os papagaios têm prosencéfalos que, em comparação, são do
mesmo tamanho dos dos grande símios, os quais estão apinhados de
neurónios com uma densidade que, em alguns casos, são mais numerosos do
que os dos primatas” (pg. 54-55)
* “Darwin descreveu a descoberta pelos humanos da arte de produzir
fogo como ‘provavelmente a maior descoberta de todas, além da
linguagem’. Poderia não estar errado, ainda que, na atualidade, não
dependamos tanto do fogo como dependemos durante o calor branco da
acuidade vitoriana quando escreveu essas palavras” (pg. 58)
*“A maioria dos chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos vivem em
ambientes de floresta densa, onde os incêndios são apenas devastadores
e, felizmente, raros” (pg. 62)
* “Apesar de a transição para a espécie Homo sapiens ter ocorrido em
África, considero que estamos a mudar para uma espécie de seres híbridos
derivados de diversos humanos ancestrais oriundos de África” (pg. 62)
* Na pg. 73, a tradução deixa-se levar por um “falso amigo” e traduz
“plague” (peste) por “praga”, apesar de o contexto de enumeração de
epidemias tornar óbvio do que está a falar-se
* “Na Europa, e em pessoas que emigraram para a Europa há pouco tempo, bebe-se leite ao longo de toda a vida” (pg. 76)
* “As cabras que ordenhámos há 7000 anos estavam a ser domesticadas e agora são aquilo em que nós as transformámos” (pg. 77)
* “As formigas cortadeiras são conhecidas dos documentários
televisivos por carregarem colossais secções de folhagem que cortaram de
plantas” (pg. 77)
[Rutherford parece assumir que os seus leitores têm como fonte
principal de conhecimentos sobre ciências naturais a TV e o YouTube]
* “Julie [uma chimpanzé] contava então quinze anos, uma jovem adulta
talvez a começar a crescer como fruto dos impulsos de uma juventude
travessa e caprichosa” (pg. 81)
* “O Homo naledi, um povo primitivo […] misteriosamente descoberto
numa profunda caverna labiríntica, escura como breu, na África do Sul no
ano de 2013” (pg. 86) [a descoberta do Homo naledi nada teve de
misterioso ou invulgar, pelo que se conclui que o advérbio de modo é
arbitrário; quanto ao “escura como breu”, quem esperaria que uma
“profunda caverna” fosse bem iluminada?]
* “O extraterrestre observa o enorme, assustador, protegido por uma
carapaça e de dentes afiados como lâminas Dunkleosteus, um peixe
devoniano de há cerca de 400 milhões de anos” (pg. 87)
* “Os genes individuais são muitas vezes fascinantes por direito
próprio, ainda que muitos sejam bastante aborrecidos” […] “os genes
envolvidos no desenvolvimento do cérebro são particularmente
fascinantes, porque temos um cérebro grande e interessante” (pg. 153)
[há livros sobre assuntos fascinantes que conseguem tornar-se bastante
aborrecidos]
 |
| Quadro, por Abraham Teniers. |
Quando examina as possíveis razões para a extinção do Homo
neanderthalensis (pg. 17), Rutherford sugere que “talvez tenhamos [nós, o
Homo sapiens], sido mais inteligentes. Talvez lhes tenhamos levado
doenças com as quais convivêramos e às quais ganháramos imunidade, mas
que foram letais para uma população que não estava preparada. Talvez
tenham sido, simplesmente, extintos”. Rutherford é um Sherlock Holmes,
um Hercule Poirot. “Talvez Maddie tenha sido raptada por um pedófilo.
Talvez o rapto tenha sido encenado pelos pais para encobrir uma morte
acidental. Talvez tenha simplesmente desaparecido”.
Quando menciona os machados acheulenses (pg. 33), uma ferramenta de
pedra que surgiu há 1.7 milhões de anos e continuou em uso até há
130.000 anos, Rutherford escreve: “Hoje em dia, muitas mais pessoas
utilizam telefones ou conduzem automóveis, têm óculos para ler ou
utilizam chávenas, mas em termos de longevidade, as ferramentas
acheulenses ganham com uma perna às costas”. A comparação, não sendo
falsa, é vã e completamente desadequada: há centenas de ferramentas e
máquinas que estão em uso há mais tempo do que os telefones e os
automóveis e os próprios telefones e automóveis sofreram modificações
vertiginosas desde que foram inventados há cerca de século e meio. É
claro que a evolução da tecnologia humana tem decorrido de forma
exponencial e que, se num período inicial foram necessárias centenas de
milhares de anos para que surgissem algum melhoramentos nos machados de
pedra ou nas lanças, o iPhone conheceu 13 gerações em apenas 13 anos (do
iPhone 1 de 2007, ao iPhone SE de 2020).
A vida na Terra teve, segundo Rutherford, origem “em respiros [!]
hidro-termais que botaram do solo [!] oceânico durante o período Hadeano
há cerca de 3.9 mil milhões de anos. Estas torres [?] foram (e
continuam a ser) formadas por olivina mineral e permeadas por poros e
canais labirínticos formados pelo tumulto de pedra viva por debaixo.
Diz-se ‘serpenteado’, e a presença de sulfureto de hidrogénio e outros
químicos com carga a volutear para dentro e para fora destas câmaras
microscópicas deu origem às primeiras células”. Perante uma descrição
como esta, compreende-se que muitas pessoas prefiram acreditar na versão
da Criação constante no Génesis.
Rutherford oferece uma perspetiva não menos original sobre o vínculo
entre a queima de combustíveis fósseis e o efeito de estufa: “É na
destruição das ligações químicas dessas moléculas de carbono em tempo
vitais que o fogo liberta a sua energia. Este processo moldou o mundo
moderno e, com perversidade [!], agora ameaça-o, pois o dióxido de
carbono que continuamos a lançar para a atmosfera contém mais energia do
que outros componentes do ar, e o efeito de estufa está a aquecer o
nosso mundo” (pg. 58). Quando cientistas reputados produzem um chorrilho
de disparates como este, torna-se mais fácil perceber porque proliferam
os “negacionistas climáticos”.
 |
| "Os Peritos em Arte", por Emmanuel Noterman. |
Na pg. 77, lê-se que “a evolução é incrivelmente inteligente”, uma
afirmação surpreendente vinda de um cientista e particularmente
descabida num geneticista. Atribuir inteligência, ou qualquer outra
qualidade humana, à evolução equivale a vê-la como tendo um desígnio e
um plano. Porém, não há, na história da vida da Terra, qualquer indício
dessa “inteligência”: as mutações genéticas aleatórias propiciam a cada
nova geração uma margem de variação nas características herdadas dos
seus progenitores e a pressão da seleção natural faz com que algumas
dessas variações se traduzam em maior sucesso reprodutivo e sejam
transmitidas em maior proporção à geração seguinte. A evolução
processa-se de forma imprevisível, irregular e claramente sub-óptima,
sendo amiúde quebrada por recuos, improvisações e soluções de recurso.
Aliás, o próprio Rutherford reconhece mais adiante (pg. 121) que “a
evolução arranja maneira de utilizar o que tem à sua disposição para
fazer o que tem de ser feito”, acrescentando: “Muitas pessoas conhecem o
aforismo da autoria do biólogo François Jacob para descrever a seleção
natural como um funileiro”, frase que deixará perplexa a esmagadora
maioria de leitores que não conhecem o aforismo de Jacob.
Uma vez que Rutherford nada mais diz sobre Jacob nem elucida a
metáfora do “funileiro” (apenas dispensa mais meia dúzia de linhas ao
assunto), convém reproduzir o que Jacob afirmou no iluminador ensaio
“Evolution and tinkering”, publicado no número de 10 Junho de 1977 da
revista Science: “ a ação da seleção natural tem sido amiúde comparada
com a de um engenheiro. Esta não é, todavia, uma comparação apropriada.
Primeiro, porque em contraste com o que ocorre na evolução, o engenheiro
trabalha segundo um plano pré-concebido em que antevê o resultado dos
seus esforços. Em segundo lugar pela forma como o engenheiro trabalha: a
fim de produzir um novo produto, tem ao seu dispor quer os materiais
apropriados para esse fim quer as máquinas necessárias para a tarefa.
Finalmente porque os objetos produzidos pelo engenheiro […] se aproximam
do nível de perfeição que é possível com a tecnologia do seu tempo. Em
contraste, a evolução está longe de ser perfeita”.
Jacob propõe antes a metáfora do “engenhocas”: alguém que “não sabe
exatamente o que vai fazer e usa o que tem à mão, sejam bocados de
cordel, bocados de madeira ou caixas de papelão descartadas”. Os
resultados da sua porfia “não decorrem de nenhum projeto e resultam de
uma série de contingências” e das peças e oportunidades que, por mero
acaso, foi reunindo durante o processo. O termo inglês que Jacob emprega
é “tinkerer”, que pode significar “funileiro”, mas que também designa
“alguém que tenta reparar ou melhorar algo de maneira informal e
desprovida de método” – ou seja, um “engenhocas”.
A visão da seleção natural como estando mais centrada no
“desenrascanço” e no “remendo” é fundamental para a compreensão da
biologia, da evolução e da desconcertante variedade e “bizarria” dos
seres vivos, mas a forma pouco clara como Rutherford se exprime e a
opção de se traduzir “tinkerer” por “funileiro”, fazem com que este
aspeto não tenha o merecido relevo.
A ambição de “O livro dos humanos” em abordar aspetos tão diversos da
natureza humana em apenas duas centenas de páginas e a estrutura não
muito disciplinada da obra levam a que um ponto crucial acabe por
merecer apenas um breve trecho no final do livro. Na penúltima página,
Rutherford expressa o seu pouco apreço pela ideia da “Queda, em que a
humanidade ficou maculada ao libertar-se dos grilhões da nossa criação”,
conceito que associa às “culturas cristãs”. É certo que a doutrina
cristã assenta na ideia da queda do homem – a desobediência de Adão e
Eva a Deus e a resultante expulsão do Paraíso –, bem como no conceito
associado de pecado original, passado de geração em geração.
 |
| "O Jardim do Éden e a Queda do Homem", por Jan Brughel o Velho. |
Todavia, Rutherford esquece-se de considerar que a ideia de que a
humanidade tombou de um estado original de inocência e bem-aventurança
para uma vida árdua, mesquinha, conflituosa e violenta, não é exclusiva
do pensamento cristão. Há ideologias alheias ao cristianismo que também a
perfilham, inspirando-se no mito do “Bom Selvagem”, para cuja difusão
Jean-Jacques Rousseau deu decisivo contributo, ao proclamar que “o
princípio de toda a moral é que o homem é naturalmente bom, amante da
justiça e da ordem; que não no coração humano qualquer perversidade
original […], que todos os vícios que lhe são imputados não lhe são, de
modo algum, naturais” e que “é pela sucessiva alteração da sua bondade
natural que os homens se tornaram no que são” (carta de 1762). A visão
de que fora a civilização (e, em particular, a invenção da propriedade
privada) que corrompera o homem foi detalhadamente explanada por
Rousseau no Discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre
os homens (1755), obra que suscitou de Voltaire uma resposta ácida:
“Recebi, caro senhor, o vosso novo livro contra o género humano […]
Nunca antes foi colocado tamanho empenho em fazer de nós bestas, ao
lê-lo fica-se com vontade de passar a caminhar sobre quatro patas”.
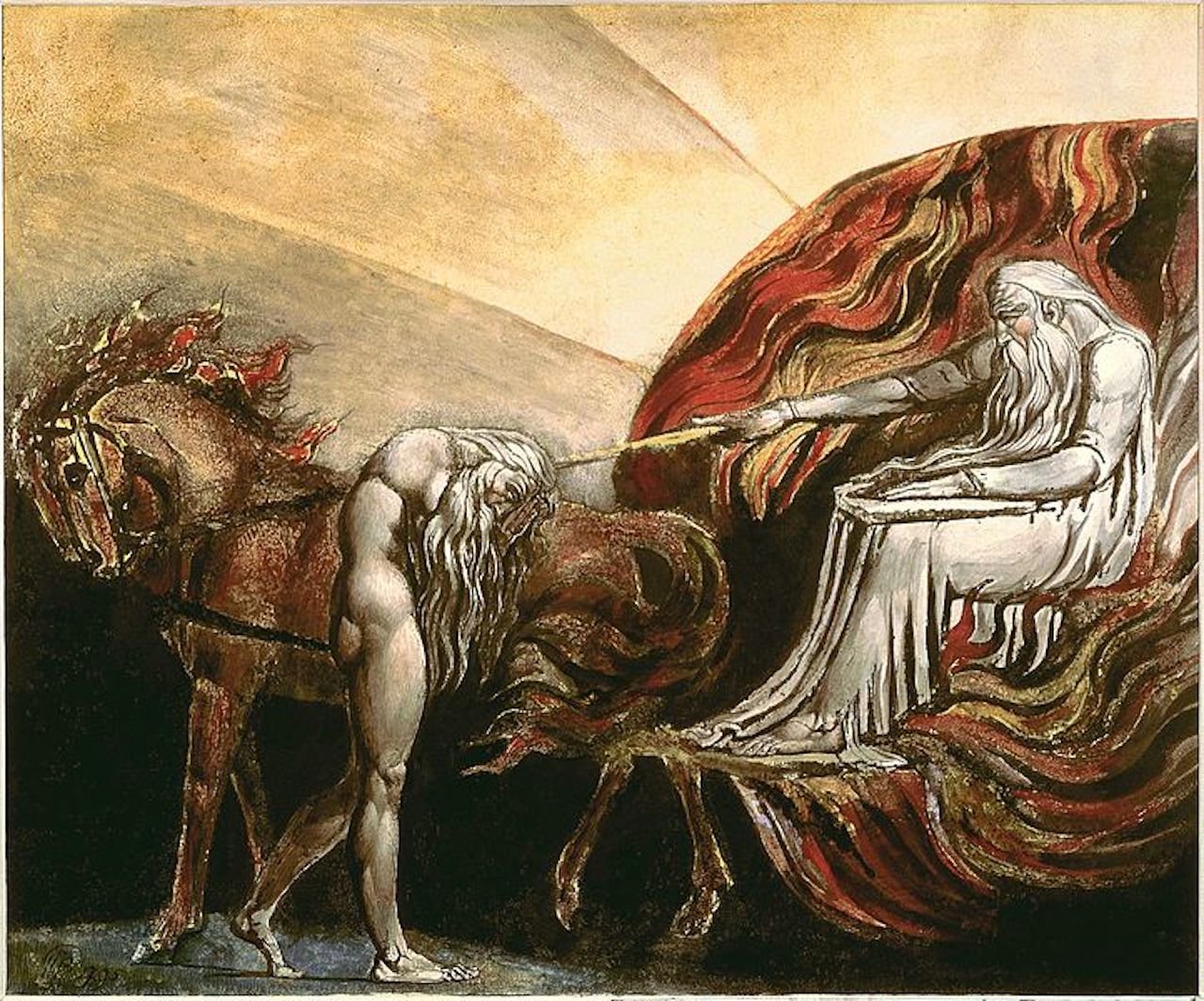 |
| "Deus julgando Adão", por William Blake. |
Porém, nem todos tiveram a lucidez de Voltaire e as ideias de
Rousseau sobre uma humanidade boa, pura e inocente corrompida pela
civilização foram instalando-se no núcleo de muitas correntes de
pensamento e mundividências com ampla expressão, nomeadamente no
comunismo e no ecologismo holístico-piegas dos nossos dias.
Rutherford opõe-se, sensatamente, à ideia da queda da humanidade: “Se
alguma coisa [uma tradução desajeitada de “if anything”?], caímos para
cima, de forma lenta e incremental, afastando-nos da volúvel brutalidade
da natureza […] Os nossos genes e o nosso corpo não são
fundamentalmente diferentes dos dos nossos primos mais próximos, [ou]
dos dos nossos antepassados”, mas “aproveitámos a obra da evolução e,
através do ensino, criámo-nos a nós mesmos, um animal que, em conjunto,
se tornou mais do que a soma das partes”. A prosa é trapalhona, mas
percebe-se a ideia: ao contrário dos outros animais, cuja natureza e
comportamento é ditada quase exclusivamente pelos seus genes, o Homo
sapiens resulta da articulação da informação contida nos genes com a
capacidade de acumular e transmitir conhecimento entre os seus
semelhantes e de geração em geração (a “cultura” no sentido lato), e é
essa combinação que faz de nós um animal excecional. Por outras
palavras, se não somos umas bestas como as outras é, sobretudo, graças à
civilização que Rousseau tanto desprezava.


Nenhum comentário:
Postar um comentário